O meu professor Vasco Pulido Valente
Aos dezassete, dezoito anos, um tipo que ainda não tivesse chegado aos quarenta era, para a maioria de nós, um ancião mais ou menos respeitável. Olhava-se assim para um professor, no “ano zero” do curso de Direito da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa, em pleno Outono de 1978. Eu, pelo menos, olhava. Uns meses antes, não fazia sequer a menor ideia em “ir para Direito”. Pensava em História. Mas, numa conversa de Verão, na Costa de Caparica, com dois colegas do liceu, mencionou-se a UCP à qual ambos iam fazer exames de admissão em Setembro. Nessa altura existia uma coisa parecida com a telescola, para efeitos pré-universitários, denominada “ano propedêutico”, que queria evitar. O Direito, e esses exames, pareceu-me um belo desvio.
Na verdade, o Direito acabou por representar muito mais um desvio fatal que uma vocação aplicada. Com certeza que, para o grosso dos examinandos desses dias quentes de Setembro, o Direito era mesmo uma opção e uma vocação. Ambicionavam muito legitimamente ser advogados, magistrados, académicos, diplomatas, membros de governo e o mais que o Direito pudesse oferecer. Os dois da Costa de Caparica queriam, sem hesitações. Estudámos afincadamente juntos e separados. Li tudo o que pude da bibliografia de história, filosofia e “cultura geral”. Passei e entrei. Eles não, e foram para a Faculdade de Direito de Lisboa. O bom do “ano zero”, dividido em dois semestres, é que combinava o consabido Direito – com coisas como “introdução” e história do dito, “introduções” ao direito público e privado, ciência política – com duas cadeiras anuais, Filosofia e História. À frente da Filosofia estava Carlos Silva, uma cabeça prodigiosa que, soube-o muitos anos depois, fora um dos professores mais estimulantes de um outro professor de Filosofia, e meu amigo, Manuel Maria Carrilho. Para a História, que seria “de Portugal”, veio um senhor, o tal senhor que ainda não atingira os quarenta anos de idade, e que conhecia sobejamente dos jornais (sim, devorava jornais), chamado Vasco Pulido Valente.
Por já o ler noutras circunstâncias, prestei a minha melhor atenção às aulas de História. Nesse tempo, fumava-se em espaços fechados, como salas de aula para umas boas dezenas de pessoas. O professor de História, particularmente, abundava nos cigarros enquanto expunha. Aliás, não levava mais nada para o estrado a não ser o maço dos cigarros. Tendia a encostar-se à mesa que havia no estrado de onde falava, nunca se sentando propriamente na cadeira que lhe estava destinada. E expunha maravilhosamente. Isso permitia “tirar” uns bons apontamentos que conservo. O professor contemplava com indiferença o rebanho que tinha pela frente. Chegou a afirmar, sorridente, que estávamos ali, não propriamente para aprender o que quer que fosse mas para sermos “preparados” para pastorear a pátria. Em relação a alguns dos presentes, manifestamente não se enganou.
O que é que Vasco Pulido Valente me ensinou nesse “ano zero”? Como era muito meticuloso, na prática o primeiro semestre preencheu-se com o estudo da identidade nacional. Havia umas folhas, em formato A4, que acabaram num dos capítulos do livro “Tentar Perceber”, de 1983, intitulado precisamente “A identidade nacional”. Ainda hoje não deixou de fazer todo o sentido. “A específica tragédia do destino português está em que ele não reflectiu essencialmente a dinâmica própria de uma sociedade (sem independência perante o Estado), mas, antes de mais, a simples capacidade de assaltar e ocupar a máquina deste último”.
No segundo semestre, passámos para a história de Portugal propriamente dita, na transição do Antigo Regime para a “modernidade”, iniciada no calendário pelas invasões francesas, seguida das “inglesas”, a corte no Brasil, culminando no pronunciamento de 1820, profusamente recordado pelo regime neste 2020 tão bizarro. Numa frase que cito de cor, de um outro livro, Vasco Pulido Valente defende que a mudança veio (sempre) de fora, no caso, com as invasões francesas. O tempo lectivo não permitiu que chegássemos à “revolução”. Desse semestre ficaram duas recomendações bibliográficas, a saber, “Comércio e Poder”, de Sandro Sideri, e “El Rei Junot”, de Raul Brandão. Aos dezoito anos não era mau.
"O meu professor Vasco Pulido Valente, que me ajuda permanentemente a resistir à mediocridade"
Algures, na Primavera de 1979, numa aula que abreviou, mandou-nos embora. Ia ser lançada a primeira pedra de uma edificação contígua à original da Palma de Cima. Presidia D. António Ribeiro, cardeal-patriarca, e o professor avisou: “é melhor irmos embora porque vai ser lançada uma pedra não se sabe bem contra quem”. No ano anterior, Vasco Pulido Valente começara a trabalhar politicamente com Francisco Sá Carneiro. Viriam a AD e as intercalares de 2 de Dezembro de 1979. E um governo em que ele era simultaneamente secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro e Secretário de Estado da Cultura. Como contava, Sá Carneiro encarregou-o de encontrar um SEC. Ele não encontrou. “Então vai você, porque eu não quero entregar uma lista incompleta de membros do governo ao Eanes”. Isto afastou Pulido Valente da UCP. Viria a reencontrá-lo no último ano do curso. Tal como no “ano zero”, a UCP proporcionava cadeiras opcionais fora do Direito, designadamente História Diplomática de Portugal (anual), leccionada por Jorge Borges de Macedo, e História das Relações Internacionais, por Vasco Pulido Valente. O professor aparecia no seu Opel Corsa encarnado, duas vezes por semana, e logo na primeira aula escreveu no quadro a biografia. As “relações internacionais” compreendiam fundamentalmente o período que ia desde as revoluções de 1848 até à Segunda Guerra Mundial, ou seja, mais ou menos cem anos de história, com um primeiro período de paz até ao desmembramento do Império Austro-Húngaro com a emergência das duas grandes guerras do século XX. Livros? James Joll, Joachim Fest, Allan Bulock e, a título de “sebenta”, A.J.P. Taylor. Fui à segunda chamada do exame final, num dia qualquer à tarde, já no edifício contendo a pedra devidamente abençoada lá atrás. A “ideia” era escolher um dos temas ditados pelo professor a partir – palavra de honra – do verso de um cheque em branco onde tomara nota deles. Depois de ditar, rasgou-o, e aconselhou os circunstantes a, pelo menos, não se enganarem no tema ao entregar a prova. Parece que, na primeira chamada, um aluno lhe deu as quatro folhas que preenchera em casa com um tema que nada tinha a ver com o escolhido. Fiquei-me pelas “causas da II guerra mundial”, por sinal o título de um outro livro famoso de Taylor.
Passou muita coisa entretanto. E, sobretudo, passaram demasiados anos e demasiados fracassos, inteiramente pessoais, sobre estas recordações relativamente inúteis. Fi-las com o único propósito de me lembrar de Vasco Pulido Valente no dia em que faria setenta e nove anos. Ele que, precisamente, “ajudou” a “preparar-me” para aquilo que podia ter sido e nunca fui. E para lembrá-lo a eventuais terceiros, não apenas como o historiador, o polemista, o comentador, o cronista, o político, etc., como será mais “conhecido” – qualidades de que outros falarão melhor e mais acertadamente do que eu -, mas como alguém que conheci e retive, também, enquanto professor. O meu professor Vasco Pulido Valente, que me ajuda permanentemente a resistir à mediocridade. Valendo o que valem, estas recordações são evidentemente para a Margarida.
21.11.2020
João Gonçalves




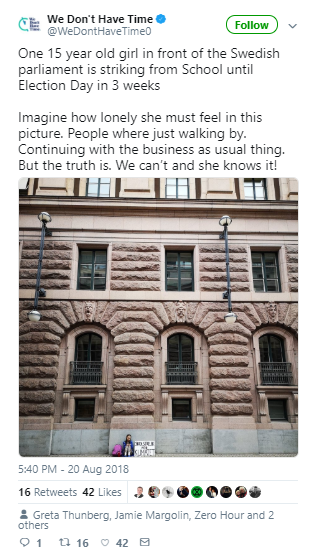

Comentários
Enviar um comentário