CANÁRIOS NA MINA: A DEMOCRACIA, A GLOBALIZAÇÃO E O POPULISMO

Photo by Juliana Kozoski on Unsplash
Samuel Huntington, no seu célebre The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century, observou que “vagas” de democratização invariavelmente provocam “vagas inversas” que resultam no colapso de democracias incapazes de se consolidarem. O alerta de Huntington relativamente ao perigo da inversão democrática seria largamente ignorado porque, nos primeiros anos da década de 1990, se generalizou a convicção de que a democracia liberal vencera os múltiplos conflitos existenciais que enfrentara ao longo do “curto século XX”. A novíssima ortodoxia mantinha que, em resultado da derrota militar dos fascismos europeus em 1945 e do subsequente desmoronamento do totalitarismo bolchevique, consumado em 1991 com a implosão da União Soviética, a democracia liberal (e a economia de mercado) constituía a única alternativa ideológica comportável com a natureza complexa e interdependente do “mundo moderno”. Habilmente articulada por Francis Fukuyama, a tese do “fim da História” concedia, como não poderia deixar de ser, que inúmeros “eventos históricos” ocorreriam nas zonas de turbulência onde os sinuosos caminhos rumo à modernidade continuavam a ser obstinadamente trilhados. Não obstante, a “História”, entendida como o confronto entre meta-narrativas político-ideológicas, chegara ao seu termo com o esgotamento das alternativas que no passado haviam ameaçado as democracias liberais. Apesar do cuidado de Fukuyama em alertar para os dilemas e perigos inerentes ao “último homem” nietzschiano, a tese do “fim da história” rapidamente passou a espelhar o zeitgeist triunfalista do pós-Guerra Fria.
Invariavelmente, outros analistas da política internacional preconizaram a era pós-Guerra Fria de forma consideravelmente menos risonha. Contrastando com a visão traçada por Fukuyama, o influente jornalista Robert D. Kaplan, no livro The Coming Anarchy, apontava o emergir de um mundo distópico marcado pela escassez de recursos, incessantes vagas migratórias e a violência resultante do colapso de Estados frágeis. Quanto aos países democráticos, teriam de absorver as ondas de choque políticas e institucionais espoletadas por estes acontecimentos exógenos. Nem todos conheceriam o sucesso. Igualmente perturbante, Samuel Huntington, em The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, identificava “fault lines” civilizacionais originárias de confrontos violentos em várias regiões do planeta. No tocante à democracia, Huntington previa a sua persistência no mundo Ocidental, ao mesmo tempo que não se coibia de manifestar dúvidas relativamente à aplicabilidade universal do modelo liberal.
Anos mais tarde, contemplando as mutações político-institucionais ocorridas nas sociedades democráticas, e deveras influenciado pelo percurso político de Viktor Orbán, Fareed Zakaria popularizaria o termo “democracia iliberal” para distinguir regimes que, apesar de conservarem alguns dos procedimentos formais da democracia, incluindo a realização de eleições, impunham constrangimentos apreciáveis ao pluralismo social e político. Formalmente democráticos, regimes deste tipo eram paulatinamente transformados em autocracias por via da erosão de um conjunto de direitos e garantias e da concomitante restrição da autonomia das instituições, colocando-as sob a tutela de um poder executivo crescentemente centralizado e autoritário. Este assalto à democracia liberal era, por regra, conduzido por partidos e movimentos populistas que, na década de 1990, começaram a agregar apoios na Europa e noutras regiões do mundo.
Hoje, trinta anos após o colapso do Muro de Berlim, as sociedades democráticas vêem-se confrontadas com uma revolução populista de consequências indecifráveis. Não será, portanto, hiperbólico concluir que, nos países ocidentais, se vive uma “crise da democracia” de desfecho incerto. A bom rigor, a inquietação provocada pelo alastrar do fenómeno populista atesta tanto o grau como a profundidade das incertezas quanto à sustentabilidade futura da democracia moderna. Os sinais de alerta são inequívocos. Partidos e movimentos de cariz populista reforçaram os seus apoios nas eleições para o Parlamento Europeu de 2014 e 2019, emergindo como os mais votados em França e no Reino Unido e na Itália. Integram ou viabilizam coligações governamentais em vários Estados-membros da União Europeia, incluindo a Áustria, a Estónia, a Grécia e a Finlândia. Ao mesmo tempo, o Fidez húngaro, o Lei e Justiça (PiS) polaco e o Movimento Cinco Estrelas/Liga italiana comandam, ou integraram, maiorias parlamentares que lhes garantem o pleno domínio do poder executivo e, segundo os seus adversários, lhes permite trilhar caminhos para o autoritarismo.
"Hoje, trinta anos após o colapso do Muro de Berlim, as sociedades democráticas vêem-se confrontadas com uma revolução populista de consequências indecifráveis. Não será, portanto, hiperbólico concluir que, nos países ocidentais, se vive uma “crise da democracia” de desfecho incerto"
Balizado pelo referendo que aprovou o Brexit e pelo surpreendente triunfo de Donald Trump, o ano de 2016 afigura-se como uma espécie de Rubicão político que instalou dúvidas quanto à viabilidade do status quo “liberal internacionalista” há décadas dominante nos dois lados do Atlântico. Convém sublinhar que, por muito relevantes que possam ser, os sucessos populistas não se restringem às vitórias granjeadas nas urnas de voto. Mesmo os partidos populistas que até agora obtiveram resultados eleitorais modestos – como sejam a Alternative für Deutschland (AfD) e os Democratas Suecos (SD) - conseguem exercer vasta influência na medida em que balizam os termos do debate público em redor de questões fulcrais como a imigração, a abrangência do Estado social, a política criminal ou os poderes e a legitimidade da União Europeia. Em resposta, na expetativa de virem a estancar futuras hemorragias eleitorais, os partidos centristas por vezes cooptam as propostas dos populistas. A título exemplificativo, o Partido Social Democrata dinamarquês, situado no mainstream do centro-esquerda europeu, mas pressionado nas urnas pelos populistas do Partido Popular Dinamarquês (DFP), efetuou uma alteração significativa à sua política de imigração. Também a então recém-eleita líder da União Democrata Cristã (CDU) alemã, Annegret Kramp-Karrenbauer, se distanciou da política de “fronteiras abertas” de Angela Merkel, usualmente apontada como a principal responsável pelo surgimento da AfD. Em resumo, no espaço euroamericano, assiste-se à consolidação do populismo e à paulatina erosão do consenso liberal centrista.
Este artigo avalia as principais causas do surgimento do populismo moderno nos Estados Unidos e nos países-membros da União Europeia. Em conformidade com uma parte substancial da literatura académica sobre o tema, argumenta que o populismo se carateriza como uma “forma de fazer política” assente, fundamentalmente, no anti-elitismo. Sugere, também, que o populismo deve ser entendido como uma expressão da “resistência cultural” à globalização, ou seja, o crescimento do populismo no espaço euro-atlântico é indissociável do contexto internacional criado pela globalização. Há, porém, um aspeto em que este ensaio diverge da maioria dos escritos que retratam o fenómeno populista. Se é verdade que o populismo tendencialmente constitui uma ameaça existencial à democracia, é igualmente verdade que pode corrigir as disfuncionalidades mais gritantes das sociedades pluralistas. Com efeito, o populismo, que passou a ser uma constante da paisagem política euroamericana, não deve, em qualquer circunstância, ser entendido como um instrumento de rutura com a democracia.
Populistas são os outros
Componente ubíquo do léxico político contemporâneo, o termo “populista” tem, paradoxalmente, sido esvaziado de palpável conteúdo descritivo. A designação transformou-se num anátema, usualmente empregue de acordo com conveniências de natureza conjuntural para menorizar, desqualificar e denigrir rivais político-ideológicos. Populistas, muito simplesmente, tendem a ser os adversários de quem os carateriza dessa forma. Perante os sucessos populistas, cresce a tentação de rotular estes partidos como de “extrema-direita” ou “fascistas”, assim ofuscando a verdadeira dimensão do fenómeno. Na melhor das hipóteses, o adjetivo populista sinaliza comportamentos e posicionamentos que, em maior ou menor grau, destoam do “consenso alargado”, ou seja, do “politicamente correto” hegemónico nas democracias europeias e americana. Dir-se-á, pois, que a denúncia do populismo funciona como um código semi-censório empregue para delimitar o âmbito aceitável, legítimo da discussão política. Porque o rótulo “populista” estigmatiza, o seu uso torna desnecessária qualquer ponderação das propostas apresentadas pelos “extremistas”. Usado desta forma, o rótulo cria um escudo inibidor da mudança, assim contribuindo para a fossilização de sistemas políticos crescentemente fechados sobre si próprios. Este congelamento do sistema político, por sua vez, reforça e radicaliza o populismo, legitimando a denúncia das elites “afastadas da realidade” e indisponíveis para “ouvirem as pessoas comuns”.
A irrefutável vaga de contestação populista que alastrou ao longo das últimas décadas impõe um cuidadoso esforço de interpretação. Por muito impreciso que possa ser, o conceito “populismo”, utilizado com a devida parcimónia e rigor, conserva uma certa utilidade analítica que não deve ser descartada. No momento atual, o “consenso geral” em torno do fenómeno assenta na premissa de que estes partidos são inerentemente antidemocráticos e, por conseguinte, a sua retórica e praxis são invariavelmente lesivas para as sociedades democráticas. Como corolário lógico desta primeira premissa, conclui-se que os líderes populistas são putativos autocratas que apenas espreitam uma janela de oportunidade para estabelecerem “democracias iliberais”. Em suma, o “consenso bien-pensant” sugere que, configurando uma ameaça existencial para os regimes democráticos, partidos “antiestablishment” carecem de legitimidade e, por conseguinte, devem ser objeto de marginalização política e mediática. Esta mesmíssima premissa informa, por exemplo, a postura de Emmanuel Macron relativamente aos populismos europeus, e ajuda a explicar a sua dificuldade em definir uma saída para o impasse francês simbolizado pela mobilização dos gilets jaunes.
Todavia, abordagens maniqueístas do populismo nada de útil acrescentam à reflexão sobre os desafios complexos enfrentados pela democracia contemporânea. A discussão sobre o fenómeno tornou-se largamente redutora porque, entre outras razões, sistematicamente recorre a exemplos e ensinamentos retirados do contexto latino-americano. Uma vez que os populistas da América Latina, por regra, ameaçam a viabilidade da democracia pluralista, infere-se que, noutras regiões do mundo, movimentos de cariz populista são igualmente antidemocráticos. Trata-se de uma conclusão compreensível se se entender o peronismo, o “fujimorismo” e o “chavismo” como paradigmáticos do populismo; isto é, se forem vistos como expressões da essência do fenómeno. Mas há outros casos de populismo, incluindo o “bolsonarismo”, que, claramente, não se enquadram neste tipo de leitura. De qualquer forma, uma transposição direta, mecânica destas experiências para as sociedades europeias e americana ignora variáveis que, em grande medida, inviabilizam generalizações feitas a partir dos casos latino-americanos. Desde logo, as debilidades das instituições latino-americanas – e, em particular, do Estado – dificilmente permitem comparações com populismos que se manifestam em contextos de robustez institucional, como, aliás, se verifica na Europa e nos Estados Unidos. A observação é relevante na medida em que indica que o desafio populista à democracia pode ser neutralizado em países cujas instituições são suficientemente fortes para absorvê-lo, algo que, por regra, não acontece nos países latino-americanos.
"Se é verdade que o populismo tendencialmente constitui uma ameaça existencial à democracia, é igualmente verdade que pode corrigir as disfuncionalidades mais gritantes das sociedades pluralistas. Com efeito, o populismo, que passou a ser uma constante da paisagem política euroamericana, não deve, em qualquer circunstância, ser entendido como um instrumento de rutura com a democracia"
A experiência empírica demonstra que enquanto alguns populismos preconizam soluções autocráticas que claramente subvertem os alicerces da democracia liberal, outros representam um impulso no sentido do aperfeiçoamento da democracia. Dito de forma diferente, o populismo contemporâneo, tal como o foi no passado, poderá ser um instrumento eficaz para ultrapassar alguma alienação política existente nas sociedades democráticas e para corrigir as suas disfuncionalidades. A “revolução jacksoniana” de 1828 e o populismo americano de finais do século XIX, liderado por William Jennings Bryan, exemplificam esse impulso no sentido da democratização. Urge, pois, conceptualizar os populismos como uma espécie de “canários na mina” que, ao introduzirem na agenda política temas cuja discussão as elites normalmente visam evitar, alertam para sinais de descontentamento social e político que, não sendo enfrentados, podem, em último caso, provocar o desmoronamento das instituições democráticas. Convém, de igual modo, enfatizar que tal desfecho somente poderá ser consumado se as elites e as instituições demonstrarem abertura suficiente para interpretarem os sinais de mudança transmitidos pela sociedade através do populismo.
Há, é certo, uma inegável tensão na génese do populismo que deve ser salientada. Por um lado, os populistas encontram ressonância na Europa e nos Estados Unidos porque abordam anseios usualmente considerados inconvenientes pelo establishment político. Por outro lado, a lógica populista habitualmente rejeita o pluralismo social e político subjacente à democracia liberal, substituindo-o por visões holísticas, orgânicas da comunidade. Evidentemente, a discussão quanto à natureza do populismo e a sua relação com a democracia liberal necessariamente suscita inescapáveis interrogações. Por exemplo, pode o populismo – à semelhança do liberalismo, do fascismo ou do marxismo-leninismo – ser entendido como uma ideologia política autónoma? Há conteúdos ideológicos e programáticos específicos ao populismo? Podem os populismos ser avaliados nos mesmos termos em que são analisadas as principais correntes ideológicas dos nossos tempos?
Quanto à natureza do populismo, John B. Judis avança com uma resposta convincente quando observa que, no essencial, o fenómeno configura “uma lógica política – uma forma de pensar sobre a política” compatível com conteúdos ideológicos variados. Dito de forma diferente, populistas apresentam-se com roupagens “esquerdistas” ou “direitistas”, não sendo o conteúdo ideológico do populismo o seu elemento diferenciador. A bom rigor, o traço comum à “forma de pensar sobre a política” populista reside na dicotomia povo-elite; isto é, na descrição da ação política como um conflito insanável entre “elites corruptas” e um “povo imaculado” fustigado e marginalizado pelo “sistema”. A característica distintiva dos populismos é, portanto, o anti-elitismo. Claro que a descrição da atividade política como um conflito inexorável, e frequentemente apocalíptico, entre “nós” e “eles” não pode ser considerado um património exclusivo dos movimentos populistas. Carl Schmitt, entre outros, teorizou a política nestes mesmíssimos termos. Lógica semelhante informa as teorias de “interest group politics” em sociedades democráticas desenvolvidas por, inter alia, Robert Dahl, David B. Truman, Charles E. Lindblom e David Easton. Justamente porque espelha a natureza conflitual da competição entre partidos políticos dentro de quadros institucionais democráticos, o binómio nós/eles encontra profundo eco junto da opinião pública, assim facilitando a disseminação da narrativa populista, frequentemente apresentada como “senso comum”.
"O termo “populista” tem, paradoxalmente, sido esvaziado de palpável conteúdo descritivo. A designação transformou-se num anátema, usualmente empregue de acordo com conveniências de natureza conjuntural para menorizar, desqualificar e denigrir rivais político-ideológicos. Populistas, muito simplesmente, tendem a ser os adversários de quem os carateriza dessa forma"
A distinção fundamental que permite separar os partidos democráticos dos populistas reside na aceitação da centralidade das instituições que expressam o pluralismo social. Ao aceitarem que a política visa a agregação, articulação e adjudicação de interesses num quadro institucional pluralista, os partidos democráticos excluem monopólios quanto à legitimidade e à superioridade moral dos interesses sectoriais que encarnam. Em contraste com os partidos pluralistas, as forças populistas acrescentam uma dimensão moralista às categorias “nós” e “eles”, manifesta no uso de termos como “a casta”, “a oligarquia” e “os poderosos”. Acrescenta-se que as narrativas populistas mantêm que as elites exercem o poder em benefício próprio, em detrimento das aspirações “genuínas” do povo. Eis a visão essencialista da sociedade e da ação política que, levada à sua conclusão lógica, fomenta o moralismo discursivo típico do populismo que transforma adversários políticos em inimigos destituídos de boa-fé e, por conseguinte, impossibilita o pluralismo.
Analisando os resultados eleitorais dos últimos anos, verifica-se, regra geral, que o nacional-populismo tem sido bem-sucedido porque tende a recriminar “elites” que promoverem os interesses de uma “parte”, uma “secção” da nação e, como corolário, de “traírem” os “verdadeiros interesses do povo”, entendido como a nação na sua totalidade. Leituras desta natureza tornam-se possíveis quando o conceito “povo” é operacionalizado de forma indiferenciada, ou seja, quando se nega a pluralidade de interesses (e aspirações) no seio da nação, atribuindo-lhe apenas um “interesse geral”. Com efeito, a lógica axiomática subjacente ao “nós” e “eles” nega o pluralismo político e social, substituindo-o por uma visão holista, orgânica da nação. Confrontados com interesses que “destoam” das “genuínas aspirações do povo”, os nacional-populistas explicam a “desunião” apontando para a existência de “interesses exteriores” à nação promovidos por outros Estados, por empresas transnacionais, pelos globalistas, pelos cosmopolitas ou, na ausência de melhor, por George Soros. Assim se torna possível construir o discurso em volta dos “interesses genuínos” da nação.
Em sociedades massificadas, o populismo seduz porque, intuitivamente, não parece difícil identificar a elite política: são homens e mulheres que detêm cargos de topo nos partidos, nos parlamentos, nos executivos, no poder local e demais órgãos decisórios. A confluência entre a “elite política” e os detentores de cargos institucionais permite a identificação dos rostos da elite política, o que, por sua vez, gera a mobilização populista contra “os políticos”. Esta mobilização visa desacreditar as instituições quando, por exemplo, os populistas insinuam que os membros do parlamento são “todos corruptos”. Ao estabelecerem uma equivalência entre “políticos” e “corruptos”, tornando-os sinónimos, retiram legitimidade às instituições para, de imediato, concluírem que os parlamentos são dispensáveis. Eis a dinâmica que, a não ser celeremente travada pela sociedade civil, ameaça os pilares centrais da democracia.
Na perspetiva populista, a “elite política” não se resume aos detentores de cargos públicos, pois engloba sindicalistas, jornalistas, académicos e outros intervenientes que, indiretamente, se encontram ligados à atividade política. Por exemplo, órgãos de comunicação social de referência como o New York Times, o Washington Post e a CNN são vistos pelos “trumpistas” como pilares do establishment americano ao serviço do partido Democrata. Fenómeno similar se verificou durante a campanha presidencial brasileira de 2018, quando a rede Globo e a Folha de São Paulo, alegadamente conotados com a agenda do Partido dos Trabalhadores (PT), foram sistematicamente atacados por Jair Bolsonaro. Se é verdade que a comunicação social crescentemente confunde opinião com informação isenta, é igualmente verdade que os populistas preferem uma comunicação direta, livre de mediação, com os eleitores. O resultado desta dinâmica traduz-se numa crescente fragmentação do discurso público e da criação de “tribos de opinião”, usualmente constituídas através das redes sociais, que tornam o diálogo político entre adversários virtualmente impossível. Neste caldo cultural de polarização político-ideológica, o populismo, liberto das amarras do escrutínio introduzido pela mediação jornalística, consolida posições.
"A bom rigor, o traço comum à “forma de pensar sobre a política” populista reside na dicotomia povo-elite; isto é, na descrição da ação política como um conflito insanável entre “elites corruptas” e um “povo imaculado” fustigado e marginalizado pelo “sistema”. A característica distintiva dos populismos é, portanto, o anti-elitismo"
A ira populista também se dirige contra as “elites económicas” que, em contraste com a elite política, são mais difíceis de identificar com precisão. Visto que o poder destas elites é mais difuso, o populismo recorre a abstrações e condenações genéricas do “sistema”. Reunido em movimentos como o Occupy Wall Street, os Indignados espanhóis ou em partidos como o Podemos, o populismo esquerdista denuncia os “grandes capitalistas”, e, tal como os descamisados que engrossaram as fileiras do peronismo, alegam que “os 1%” detêm uma fatia desigual da riqueza, injustamente acumulada através da expropriação ilegítima dos restantes “99% da população”. Visto do prisma populista, os 99% constituem o “bom povo” virtuoso, explorado pelo egoísmo, avidez e malvadez dos 1%. Colocada nestes termos, destituída das categorias tradicionais da análise de classe marxista, a discussão passa a ser essencialmente de teor moralista, limitando-se a expressar indignação com o “sistema capitalista” vigente e as “injustiças” que aparentemente fomenta. A falácia do populismo torna-se óbvia quando se pretende ir para além da indignação e do moralismo, ou seja, quando se procura formular políticas públicas concretas. Nessas ocasiões, rapidamente se torna evidente que os 99% não são uma massa indiferenciada unida por interesses uniformes. São, na realidade, uma amálgama de interesses irreconciliáveis. Daí a tentação de substituir soluções democráticas e complexas por fórmulas autoritárias e simplistas. Eis o dilema do populismo no poder, e a fonte do seu inevitável fracasso político em democracia.
Como seria de esperar, a censura populista das elites económicas e políticas ganha maior consistência durante crises económico-financeiras ou quando irrompem casos notórios de corrupção. Nessas ocasiões, torna-se possível identificar os rostos concretos dos “ladrões”, caracterização que se generaliza para descrever os “ricos”, os “tubarões” e os “oligarcas”. Convém enfatizar que a categoria “ricos” não engloba pequenos comerciantes, lojistas e aforradores, invariavelmente apontados como vítimas da corrupção dos “grandes”. Daí a defesa feita pelos populistas do comércio tradicional contra os hipermercados, ou dos pequenos investidores “lesados” na aquisição de produtos financeiros por uma banca “destituída de escrúpulos”.
Como é sabido, a denúncia dos “grandes”, dos “oligarcas” dos “ricos”, nunca foi um monopólio dos populismos de esquerda, pois o populismo direitista partilha deste tipo de narrativas. A título exemplificativo, recorde-se que os interesses representados pelo “big business” foram amplamente condenados pelo Tea Party americano porque desvirtuam o “level playing field” indispensável ao bom funcionamento do mercado. Segundo esta linha de raciocínio, as grandes empresas, por meio do lobby e das contribuições financeiras canalizadas para os cofres dos partidos e das campanhas eleitorais, beneficiam de um sistema político que corrompem no quotidiano. Esta “compra de influência” possibilita a adoção de legislação específica que permite ao “big business” salvaguardar os seus interesses paroquiais. Cientes do problema, democratas e republicanos frequentemente reprovam a interferência do “dinheiro” na política, e periodicamente anunciam reformas às regras do financiamento das campanhas eleitorais.
Chegados a este ponto, convém sublinhar a diferença entre o populismo do Tea Party e o populismo do Occupy Wall Street e do Podemos. Apesar de ambos recorrerem à linguagem antielitista e à denúncia da corrupção, os primeiros visam corrigir um problema concreto que, de forma mais ou menos intensa, é sentido pela opinião pública e por uma parte da própria classe política. Se é verdade que o anti-elitismo é a linguagem deste tipo de populismo, é igualmente verdade que, independentemente do radicalismo da retórica, a sua lógica é inegavelmente reformista, pois visa mudar um componente do “sistema” e não o “sistema” na sua totalidade. Estamos, por outras palavras, perante um tipo de populismo suscetível de ser gerido pelas instituições democráticas. Em contraste, os segundos advogam a destruição do “sistema”, único desfecho compatível com a exigência de “justiça” para os 99% da população. Eis, portanto, um tipo de populismo incapaz de ser enquadrado pelas instituições democráticas.
"Se é verdade que a comunicação social crescentemente confunde opinião com informação isenta, é igualmente verdade que os populistas preferem uma comunicação direta, livre de mediação, com os eleitores. O resultado desta dinâmica traduz-se numa crescente fragmentação do discurso público e da criação de “tribos de opinião”, usualmente constituídas através das redes sociais, que tornam o diálogo político entre adversários virtualmente impossível"
Face aos anseios presentes nas sociedades modernas que sustentam o fenómeno populista, duas conclusões afiguram-se como inegáveis. Primeira, estes partidos encontram extraordinária ressonância junto das populações. Segunda, a resposta pífia dada pelo establishment democrático gera um feedback loop que contribui para reforçar a contestação populista. Talvez o mais generalizado destes anseios – a imigração, especialmente a de origem muçulmana – tem sido invocado com grande eficácia para mobilizar o apoio de faixas significativas do eleitorado. Mas a discussão provocada pelo fenómeno migratório não se reduz às problemáticas identitárias suscitadas a propósito da inserção de “culturas estrangeiras” no “tecido cultural nacional”. Engloba um leque vasto de temas incluindo o stresse financeiro colocado nos serviços públicos, a crise demográfica europeia e as lealdades das comunidades islâmicas (frequentemente entendidas como “quinta coluna” do terrorismo jihadista). Pilar central da visão articulada pela direita populista, o discurso anti-imigração encontra-se, por norma, ausente das preocupações da esquerda populista, cuja tradição internacionalista atenua este tipo de discurso.
Necessariamente resumida e incompleta, esta discussão do populismo pretende salientar que nem todos os populismos constituem ameaças existenciais à democracia. Sugere também que a probabilidade de se assistir a sucessos populistas aumenta na medida em que os partidos democráticos se fecham perante os anseios corporizados e expressos pelo populismo. Se os partidos democráticos conseguirem absorver os receios das populações e canalizá-los para as instituições, o populismo será domado. Note-se, a título exemplificativo, que a então nova líder da CDU alemã, Annegret Kramp Karrenbauer, optou por prosseguir este tipo de estratégia. Por outro lado, uma vez que as origens do populismo moderno não se reduzem a variáveis de política interna, tornam-se incompreensíveis na ausência de uma referência às mudanças ocorridas na cena internacional no pós-Guerra Fria. Com efeito, porque a globalização gerou um conjunto de consequências que contribuíram para o alastrar do populismo, este não pode ser analisado apenas como um fenómeno de política interna divorciado de fatores e dinâmicas internacionais.
Globalização e “resistência cultural”
As décadas que antecederam a crise financeira de 2008 testemunharam o desenrolar de um processo de globalização que, para além das suas vertentes comercial e financeira, incorporou a revolução digital que suporta a proliferação das redes de partilha de conhecimento. Nos anos 90 do século passado, era virtualmente consensual a noção de que a globalização conduziria a uma maior proximidade entre sociedades e, por conseguinte, à cooperação entre Estados. Afirmava-se que as fronteiras físicas e imateriais inibidoras da compreensão transcultural necessária para fomentar a cooperação internacional seriam superadas pelo acesso generalizado aos meios de comunicação digital (com destaque particular para a internet). Mediado pelo conhecimento mútuo, o desejável encontro do “outro” era apontado como a precondição para estabelecer a cooperação duradoura enraizada nos valores liberais inerentes à globalização.
Bill Clinton, o político que mais entusiasticamente abraçou esta concepção da globalização, entendia-a como um processo gerador da prosperidade económica, da democracia política e da cooperação entre povos e Estados. A globalização saldava-se por resultados win-win porque, na formulação de Thomas Friedman, produzia um mundo mais integrado e “plano”. A globalização era, simultaneamente, uma consequência da modernização socioeconómica e uma espécie de motor dessa mesma modernização. À medida que as sociedades faziam a sua transição para a modernidade, emergiam “classes médias” novas que passariam a exigir participar na vida política, assim obrigando regimes autocráticos a criarem instituições pluralistas a fim de absorverem novas reivindicações sociais. A abordagem recuperava a lógica do “desenvolvimento” típica das “teorias de modernização” dominantes nas ciências sociais a partir dos anos 50 e 60, que antecipavam um mundo mais democrático e, como corolário, um sistema internacional mais pacífico.
"A resistência à globalização, porém, não se manifestou exclusivamente em sociedades periféricas, não-ocidentais, a braços com os efeitos identitários produzidos pela lógica globalizante. Nos Estados Unidos e na Europa, emergiu uma clivagem política interna quando a globalização passou a ser entendida como a principal causa da erosão do nível de vida das classes médias. Gerando pressões no sentido da liberalização dos mercados de trabalho e da flexibilização das leis laborais nacionais, a globalização passou a ser responsabilizada pelo aumento do desemprego, pela estagnação dos salários reais e pelo acentuar da insegurança socioeconómica das classes mais vulneráveis"
Independentemente das divergências que os separavam no tocante a um leque vasto de assuntos de política interna e externa, Bill Clinton, George W. Bush e Barack Obama partilharam o essencial desta visão globalista. De igual modo, convencidas que teriam entrado num mundo pós-moderno que lhes permitia escapar à lógica hobbesiana do sistema internacional, as elites europeias subscreviam este mesmo entendimento benigno da política externa assente no internacionalismo liberal. Na era pós-Guerra Fria, americanos e europeus encorajaram a globalização porque acreditavam que conduziria ao alargamento da democracia e da paz. Sendo assim, não surpreende que o establishment de política externa dos dois lados do Atlântico aceitasse como verdadeira a tese da paz interdemocrática; isto é, a convicção kantiana de que as democracias, mesmo que mais bélicas em relação às autocracias, não se guerreiam. Concluindo-se que a expansão da democracia gerava uma espécie de “comunidade de paz”, alargou-se a Aliança Atlântica e a União Europeia para o leste europeu e procedeu-se à adesão da China à Organização Mundial de Comércio.
Acreditando que o aprofundamento das relações comerciais com a China conduziria à integração plena deste país na economia mundial, o que levaria Pequim a democratizar internamente e a adotar um comportamento internacional pautado pela cooperação, vários governos europeus e administrações americanas anuíram perante as práticas comerciais discriminatórias chinesas. Convencidos que a emergência da China como grande potência ocorreria de forma pacífica, os decisores ocidentais naturalmente aceitavam sacrifícios no curto prazo a nível da política comercial porque se tratava de um preço aceitável para garantir a integração de Pequim na economia mundial e, não menos importante, de obter acesso ao apetecível mercado chinês. Nos Estados Unidos, este consenso quanto à política externa, resultante da leitura feita relativamente à bondade da globalização, perdurou até ser enterrado por Donald Trump. No espaço europeu, as atitudes relativamente à China continuam a ser marcadas por ambiguidades e contradições, manifestas em assuntos como o fornecimento de tecnologia 5G pela Huawei e os moldes da participação de Estados europeus no Belt and Road.
As expetativas sobre a ordem internacional pós-Guerra Fria partilhadas por americanos e europeus saíram largamente goradas porque a globalização se transformou num sinónimo de ocidentalização. Acentuando a uniformidade cultural associada à modernidade euro-americana, a globalização revelou possuir uma lógica de homogeneização cultural. Por conseguinte, a confluência estabelecida ente “globalização” e “ocidentalização” universalizou-se à medida que as regiões anteriormente excluídas da economia mundial – a China e os países ex-comunistas europeus – foram absorvidas pela lógica globalizante. Expostos à mundivisão ocidental, os destinatários dos “encontros transculturais” e da democratização acabariam por rejeitar, por vezes através do uso da violência extrema, os valores e as instituições tidas como veículos da hegemonia ocidental. Deste modo, a oposição local à globalização metamorfoseou-se numa “resistência cultural” à ocidentalização, protagonizada por movimentos determinados a recuperar a “identidade nacional” e a “grandeza” dos respetivos países. Por exemplo, com o intuito de reconstituir um “califado” largamente imaginado, mas apresentado como paradigmático da grandeza islâmica de outrora, a al-Qaeda e o Estado Islâmico encarnaram a rejeição da globalização através da resistência religioso-cultural armada. Mas a “resistência cultural” à globalização não se restringia a estas expressões sanguinárias, pois, e independentemente das suas especificidades, o “putinismo”, o BJP de Narendra Modi, o AKP de Erdoğan e o Partido Comunista Chinês de Xi Jinping adotaram estratégias de “resistência cultural” assentes em nacionalismos chauvinistas que preconizam o regresso à “grandeza nacional”.
A resistência à globalização, porém, não se manifestou exclusivamente em sociedades periféricas, não-ocidentais, a braços com os efeitos identitários produzidos pela lógica globalizante. Nos Estados Unidos e na Europa, emergiu uma clivagem política interna quando a globalização passou a ser entendida como a principal causa da erosão do nível de vida das classes médias. Gerando pressões no sentido da liberalização dos mercados de trabalho e da flexibilização das leis laborais nacionais, a globalização passou a ser responsabilizada pelo aumento do desemprego, pela estagnação dos salários reais e pelo acentuar da insegurança socioeconómica das classes mais vulneráveis. Os críticos da globalização acrescentam que a flexibilização da regulamentação que acompanha a livre circulação de bens e serviços destrói sectores tradicionais da economia, incluindo pequenos negócios, incapazes de resistir à concorrência de grandes empresas que consolidam as suas fileiras de distribuição. Concebida nestes termos, a globalização representa uma ofensiva do “grande capital” contra as classes trabalhadoras e as classes médias, enfraquecendo-as por meio da deslocalização de investimentos e atividades produtivas para países que concedem às empresas condições mais vantajosas. Dá-se, portanto, uma espiral de concorrência para o “fundo”, um empobrecimento tão gradual quanto inexorável em resultado da diminuição das capacidades reivindicativas dos trabalhadores.
"Hillary Clinton, rosto emblemático do establishment político americano, a antiga secretária de Estado montou uma defesa intransigente da globalização, da ordem liberal e das normas que a sustentam. Em contraste, Trump, abandonou as tradicionais linhas programáticas do partido Republicano: o internacionalismo e o comércio livre. Por outras palavras, rompeu com o “globalismo” há décadas subscrito pelas elites republicanas e, em seu lugar, ofereceu um nacional-populismo abertamente hostil ao “globalismo” dominante no interior dos dois maiores partidos americanos"
Quanto a esta matéria, a leitura feita pelos nacional-populistas não se distingue substancialmente do populismo de esquerda. Ambos concebem a globalização como a primeira causa do incremento da precaridade, do desemprego, da estagnação salarial e, de modo geral, da degradação do nível de vida nas sociedades ocidentais. Há, porém, uma diferença de interpretação que separa os populistas de direita e de esquerda. Para os primeiros, os males das sociedades ocidentais residem, sobretudo, na imigração, uma consequência inevitável da globalização e das políticas de “fronteiras abertas” que a caraterizam. Afirma-se que imigrantes aceitam salários baixos e, dessa forma, usurpam os empregos das populações nativas, particularmente dos menos qualificados. Em paralelo, alega-se que os imigrantes “se aproveitam” dos programas proporcionados pelo Estado social, assim provocando um excesso de procura dos serviços públicos que resulta na sua deterioração e no aumento do fardo dos contribuintes. Constatando que os recursos do Estado social são escassos, os populistas concluem que devem ser canalizados apenas para os membros da comunidade nacional, reforçando, desta forma, a demarcação nós/eles, entre os que integram a comunidade política e os dela excluídos.
Para os populismos de direita, a imigração apresenta um adicional perigo de natureza existencial: a erosão das culturas que sustentam a identidade e a coesão do estado nacional moderno. Se é verdade que praticamente nenhum partido hoje invoca a bandeira da “superioridade da raça branca”, é igualmente verdade que se assiste à generalização da retórica do exclusivismo cultural assente na premissa de que as diferenças culturais entre europeus e “os outros” constituem um fosso inultrapassável que impossibilita a integração de não-ocidentais nas sociedades europeias. Esta “resistência cultural” também se expressa, porventura de forma mais nítida, através da ideia de que o islamismo constitui uma ameaça à cristandade, o pilar estruturante da identidade ocidental. É, aliás, esta visão sobre as ameaças à “civilização ocidental” que une Vladimir Putin e vários partidos populistas europeus.
Esta resposta identitária à globalização permite aos populistas de direita mobilizar os “perdedores da globalização” mais eficazmente do que os populismos de esquerda porque, na formulação de Hanspeter Kriesi, os “receios sobre identidades nacionais” são mais importantes do que a defesa de direitos económicos. Colocada nestes termos, a conclusão de Kriesi parece contra-intuitiva na medida em que minimiza o fenómeno que Hans-Georg Betz descreve como a “proletarização” da base eleitoral da direita populista. A bom rigor, as duas observações são complementares, porque a imigração é entendida pelos partidos populistas como a principal causa da deterioração do status das classes médias e da sua efetiva proletarização. Perante a profunda insegurança em volta do status, reclama-se a intervenção do Estado no sentido de impor políticas protecionistas, o encerramento das fronteiras e restrições ao uso por estrangeiros dos serviços do Estado social. Face à centralidade da questão identitária e da recuperação da grandeza nacional, o Estado passa a ser concebido como a “solução” para a insegurança económica e como o último reduto contra qualquer mudança.
Pouco importa se a globalização tem sido responsável pelos danos colossais que os populistas lhe imputam. A verdade incontornável é que a narrativa antiglobalização se generalizou e, hoje, faixas significativas da opinião pública democrática aderem à mundivisão construída pelos populistas. Se é verdade que a oposição europeia à globalização, tal como a americana, congrega vozes de esquerda e de direita, é igualmente verdade que as premissas subjacentes tendem a ser substancialmente diferentes. À esquerda, de forma geral, entende-se a globalização como a expressão da hegemonia do capitalismo financeiro e do neoliberalismo, usualmente caraterizado como a ideologia do império americano e das elites nacionais a ele aliadas. Em contraste, a direita europeia considera a globalização como uma espécie de coveiro da prosperidade da classe média e uma ameaça aos traços distintivos das culturas nacionais e dos Estados que as encarnam. Ambos, se bem que por razões diferentes, afirmam que o avanço da globalização e do neoliberalismo conduziu à erosão do modelo social europeu e à precaridade socioeconómica.
O populismo veio para ficar
São escassos os partidos do mainstream político-ideológico euroamericano que ainda abraçam a globalização com o vigor demonstrado nos anos anteriores à crise financeira de 2008. Será, porventura, nos Estados Unidos que esse ceticismo mais se acentuou. Como é sobejamente conhecido, ao longo da campanha presidencial de 2016, o tema da globalização provocou uma acentuada clivagem entre Donald Trump e Hillary Clinton. Rosto emblemático do establishment político americano, a antiga secretária de Estado montou uma defesa intransigente da globalização, da ordem liberal e das normas que a sustentam. Em contraste, Trump, abandonou as tradicionais linhas programáticas do partido Republicano: o internacionalismo e o comércio livre. Por outras palavras, rompeu com o “globalismo” há décadas subscrito pelas elites republicanas e, em seu lugar, ofereceu um nacional-populismo abertamente hostil ao “globalismo” dominante no interior dos dois maiores partidos americanos.
Recorde-se que Donald Trump não fora o primeiro político americano a expressar reservas relativamente à globalização. Apesar de minoritária, há décadas que uma corrente no seio do partido Republicano se mostrara deveras cética quanto à bondade do globalismo. Articulando este ponto de vista durante as primárias presidenciais de 1992 e 1996, Pat Buchanan fora pioneiro na condução de “campanhas insurgentes” contra o status quo e na defesa de propostas que seriam subsequentemente recuperadas por Trump: o nacionalismo assertivo, a limitação da imigração, as barreiras alfandegárias e a revogação do NAFTA. Buchanan antecipara Trump noutro aspeto crucial: fora pioneiro do discurso em defesa do “homem comum”, dos “deserdados” da globalização que, de modo depreciativo, Hillary Clinton veio mais tarde caracterizar como “os deploráveis”. Igualmente importante, fora um dos primeiros políticos a alertar para os riscos inerentes ao surgimento da China como grande potência. Contudo, Buchanan não seria o único a tentar romper com o consenso internacionalista do seu partido. Ron Paul, congressista do Texas, durante as primárias de 2008 e 2012, também se insurge contra as intervenções militares americanas, advogando o isolacionismo na cena internacional e o regresso ao padrão-ouro.
Mas a contestação à globalização nunca verdadeiramente se circunscreveu às elites do partido Republicano. Influenciados pelas reivindicações de poderosos sindicatos alarmados com a desindustrialização e outras consequências do comércio livre, destacados elementos do partido Democrata expressaram profundas e numerosas reservas quanto à globalização promovida pela ala “clintoniana”. A título exemplificativo, Tom Harkin, nas primárias de 1992, e John Edwards, em 2004 e 2008, protagonizaram candidaturas populistas em nome dos “working Americans” fustigados pelas políticas globalistas. Recorde-se que, em 2004, Edwards fora o candidato a vice-presidente no ticket Democrata encabeçado por John Kerry, um sinal inequívoco do desconforto sentido em largos sectores do partido. Mais tarde, nas primárias de 2016, a ala que apoiara Harkin e Edwards mobilizou-se em volta da candidatura de Bernie Sanders, cujas críticas ao comércio livre obrigaram Hillary Clinton a esfriar o entusiasmo pela globalização que insistentemente expressara ao longo de um percurso político de duas décadas.
Enquanto os Democratas enfrentavam a tempestade perfeita, Donald Trump, adotando um discurso paradigmático do populismo moderno, denunciava as elites que tinham criado um país multicultural de “fronteiras abertas” e abandonado os valores fundacionais do Estado americano. Apresenta-se como porta-voz da “verdadeira” América, das suas tradições nacionais e do escasso poder (político, económico e cultural) que ainda permanecia nas mãos dos “deploráveis”. Mais concretamente, responsabilizou Barack Obama pelas políticas de imigração que, direta ou indiretamente, desfizeram o tecido social do país. Ao abraçarem as especificidades das identidades étnica, de género e outras, as elites promoviam um assalto concertado às origens e tradições “anglo-saxónicas” do país, a única herança etnolinguística rejeitada em nome da “diversidade”. Em consequência da adoção desta “identity politics”, o partido Democrata afastou-se da “realidade dos trabalhadores”, permitindo que Trump construísse a sua narrativa do “país profundo” traído pelas elites cosmopolitas.
Dado que, na perspetiva de Donald Trump, o Estado existe para promover o bem-estar dos cidadãos “nativos”, e não para ser o “refúgio para as populações mundiais”, a política de imigração futura teria de assentar em duas premissas. Primeira, os recursos finitos do Estado seriam alocados de forma a assegurar a melhoria de vida dos cidadãos nacionais, particularmente os “working people” fustigados pela globalização. Segunda, e em resultado da primeira premissa, a política de imigração teria de abandonar os critérios da diversidade e da abertura das fronteiras. Com efeito, o Estado americano teria, rapidamente, de restabelecer o controlo sobre as suas fronteiras. Esta perspetiva sobre a imigração, os muros e a insegurança económica, logicamente conduzia à rejeição da política externa internacionalista do establishment washingtoniano.
"Não obstante este ponto de vista, muito dificilmente se pode caracterizar a abordagem do presidente americano como uma viragem isolacionista. A bom rigor, o abandono do globalismo e o concomitante reforço da soberania dos Estados Unidos pretendido por Trump visa o oposto do isolacionismo, isto é, pretende reconfigurar relações de poder, as normas internacionais e as instituições multilaterais de forma a garantir a primazia dos interesses americanos"
Porque, para Donald Trump, os fins primordiais do Estado americano residem na maximização da segurança física e do bem-estar material dos cidadãos, a política externa deve pautar-se, exclusivamente, pelo interesse nacional. Não obstante este ponto de vista, muito dificilmente se pode caracterizar a abordagem do presidente americano como uma viragem isolacionista. A bom rigor, o abandono do globalismo e o concomitante reforço da soberania dos Estados Unidos pretendido por Trump visa o oposto do isolacionismo, isto é, pretende reconfigurar relações de poder, as normas internacionais e as instituições multilaterais de forma a garantir a primazia dos interesses americanos. A rejeição da ordem liberal, do globalismo, não é sinónimo de um “regresso a casa” isolacionista, de um abandono da presença americana no mundo. Significa, simplesmente, que os Estados Unidos tencionam interagir com o mundo de acordo com novas regras. A distinção não é meramente semântica.
Ao mesmo tempo que Trump criticava o globalismo, os líderes do Brexit rejeitavam a permanência do Reino Unido na União Europeia, entendida como a expressão regional da globalização. Durante a campanha que antecedeu o referendo de 23 junho de 2016, Nigel Farage, Boris Johnson, Michael Gove e outros rostos do Leave confrontaram os votantes com dois argumentos principais. Primeiro, a saída do Reino Unido da União Europeia tornara-se necessária para recuperar a soberania do país e a primazia do parlamento britânico, ou seja, a intenção expressa era “to take back control” das instituições e dos destinos nacionais. O segundo argumento, independentemente das ambiguidades e contradições, salientava que a imigração seria limitada para assegurar a sustentabilidade do welfare state e para distribuir os frutos do Estado social de forma mais restritiva, propósito entendido como outra dimensão do “taking back control” dos destinos nacionais. Nos anos que se seguiram à votação, e à medida que o Brexit provocava inúmeros impasses, os partidos populistas continentais abandonaram as suas tradicionais reivindicações quanto ao abandono do euro/União Europeia, passando a advogar a “mudança por dentro” das instituições europeias.
Após a aprovação do Brexit, a surpreendente vitória de Donald Trump fora recebida pelos populistas continentais como uma espécie de confirmação de que se encontravam do “lado certo” da História. Na realidade, Trump e os populistas europeus coincidem em vários assuntos, incluindo a necessidade de “renacionalizar” elites que alegadamente sacrificavam o interesse nacional aos compromissos e às alianças externas, particularmente a NATO e a União Europeia, as instituições mais representativas do globalismo na Europa. Ao encorajar os apoiantes do Brexit, e ao proferir declarações claramente prejudiciais à coesão da Aliança Atlântica, o novo presidente americano sinalizava a sua intenção de rever os pressupostos da política externa americana relativamente à NATO e à integração europeia. Para os populistas, na altura ainda comprometidos com a saída dos seus respetivos países do euro/União Europeia, Trump não era nada menos do que um aliado objetivo capaz de enfraquecer as instituições representativas do globalismo no continente.
Por outro lado, o sucesso eleitoral de Trump trouxe à superfície as ambiguidades dos populistas relativamente aos Estados Unidos. Populistas europeus, tanto esquerdistas como direitistas, tendem a partilhar um conjunto semelhante de apreciações quanto aos Estados Unidos, desde a “arrogância imperial”, à “imaturidade histórica”, ao “materialismo crasso” e à “ingenuidade” das suas gentes. Lars Rensmann, num artigo publicado no início do século, observara que, nessa época, o “antiamericanismo está no topo da agenda dos partidos da extrema-direita pela Europa”. Similarmente, Christina Schori Liang afirmava que, no pós-Guerra Fria, o antiamericanismo aumentara no seio da extrema-direita, que considerava os Estados Unidos como o maior adversário da Europa. Dominando as instituições internacionais globalistas que limitam a soberania nacional, e porque a grande finança e as grandes empresas encontram-se sediadas nos Estados Unidos, os americanos eram vistos pelos populistas como os arquitetos e os principais defensores da ordem globalizada.
Porém, como demonstrou Simon Schama no seu ensaio “The Unloved American”, as desconfianças europeias relativamente aos Estados Unidos remontam à fundação da república. É evidente que, no campo direitista, o antiamericanismo esbateu-se durante as décadas de guerra fria pela simples razão de que o comunismo era o inimigo existencial da direita nacionalista. Na época, o antiamericanismo, era um monopólio virtual da esquerda radical europeia. Não admira, pois, que, por exemplo, a Front National (FN) francesa se assumisse como pró-americana antes do colapso do comunismo na Europa Central e na União Soviética. Posteriormente, durante a primeira guerra do Golfo Pérsico, a FN traçou um posicionamento mais crítico relativamente aos Estados Unidos. Similarmente, o Partido da Liberdade austríaco (FPÖ), ao longo de muitos anos liderado por Jörg Haider, foi solidário com as posições de Washington até ao início da década de 2000, altura em que Haider se aproxima de Saddam Hussein. A vitória eleitoral de Trump e o seu discurso antiglobalismo atenuou, por enquanto, o antiamericanismo dos nacional-populistas europeus.
"Face aos anseios provocados pela insegurança económica e cultural que tem alastrado pelos países ocidentais, os populistas advogam, como alternativa política, o reforço do Estado como instrumento para retomar o “controlo” dos destinos das comunidades nacionais. Com efeito, o populismo europeu configura uma tentativa de utilizar o Estado nacional, e a mobilização nacionalista, para responder às inseguranças económicas e culturais provocadas pela globalização"
Atendendo a estes dados, também não deve surpreender a crescente coincidência de pontos de vista entre os líderes populistas europeus e Vladimir Putin, cujo objetivo estratégico principal passa pela abertura de brechas na coesão dos aliados transatlânticos. Na medida em que se insurgem contra a União Europeia, a NATO e a hegemonia dos Estados Unidos, os populistas europeus – tanto de esquerda como de direita – são aliados objetivos de Putin. É neste quadro que as declarações de Trump a caracterizar a Aliança Atlântica como “obsoleta” geraram desconfiança sobre o papel que o presidente vislumbrava para os Estados Unidos na região. Mais recentemente, o populismo europeu tem vindo a convergir com Putin (e, em certa medida, com Trump) na leitura feita da sociedade americana. Na perspetiva do autocrata russo, os EUA abandonaram os valores tradicionais da cristandade, substituindo-os pelo individualismo e pelo materialismo corrosivos da civilização ocidental. A extensão dos direitos das minorias, incluindo a legalização de casamentos do mesmo sexo, indiciam sociedades “decadentes” que deixaram de ser verdadeiramente representativas do Ocidente. Confrontados com as mudanças de valores e comportamentos verificados na sociedade americana, os partidos de extrema-direita certamente olhavam cada vez mais para os Estados Unidos como o exemplo dos riscos inerentes às mudanças que combatem.
Alguns temas suscitados pelas campanhas de Donald Trump e do Brexit também seriam desenvolvidos por Jair Bolsonaro durante a contenda presidencial brasileira de 2018. Apesar de ter cumprido vários mandatos ao longo de três décadas como membro da Câmara dos Deputados do Congresso federal, Bolsonaro, tal como Trump e Farage, conseguiu preservar o estatuto de “outsider” da política brasileira, o traço distintivo da sua “marca” eleitoral. Sistematicamente reprovadas pela comunicação social, as polémicas lançadas por Bolsonaro ao longo dos anos reforçaram a perceção de que o “capitão” era o último reduto na defesa dos valores e instituições tradicionais ameaçadas pelo Partido dos Trabalhadores (PT). Pautou o seu discurso pela rejeição de “elites corruptas” manifestamente incapazes de garantir o desenvolvimento e a segurança de um país fustigado pela criminalidade e pelas gritantes desigualdades socioeconómicas. Este fracasso do establishment evidenciava-se a outro nível: ao abandonarem os valores da pátria e da família, as elites desfizeram as hierarquias assentes na autoridade e na tradição. Por conseguinte, na perspetiva do “bolsonarismo”, generalizou-se o desrespeito pelas instituições nacionais, particularmente pelas forças armadas. Daí o apelo à restauração da “grandeza nacional” do Brasil.
Partindo deste entendimento do país e do desempenho das suas elites, o discurso de Bolsonaro invoca diversos temas comuns a outros populismos. Há, todavia, um elemento típico do populismo euro-americano que manifestamente se encontra ausente do discurso de Bolsonaro: a rejeição da dimensão económica da globalização. Se é verdade que Bolsonaro não defende o globalismo, é igualmente verdade que também não rejeita o neoliberalismo. Aliás, não deixa de ser notável constatar que Bolsonaro conquista o Palácio da Alvorada depois de apresentar um programa inequivocamente neoliberal, reivindicando a reforma da previdência nacional, a desburocratização e a retirada do Estado da economia através das privatizações. Ao mesmo tempo, a indicação de Paulo Guedes para a chefia do ministério da Economia sinalizava um inquestionável compromisso com a agenda neoliberal. À semelhança do peronismo de Carlos Menem, do Tea Party e do AKP de Erdoğan, Bolsonaro, casava o populismo com soluções neoliberais, assim demonstrando a compatibilidade do populismo com conteúdos ideológico-programáticos diversos.
Uma vez que o universo populista usualmente enfatiza a contestação à dimensão económica da globalização, a centralidade da crítica feita por Jair Bolsonaro à dimensão cultural do globalismo parece anómala. No seu blog pessoal, pouco tempo antes de ter assumido o cargo de ministro das Relações Externas, Ernesto Araújo reprovara a dimensão cultural da globalização nos seguintes termos: “Quero ajudar o Brasil e o mundo a se libertarem da ideologia globalista. Globalismo é a globalização econômica que passou a ser pilotada pelo marxismo cultural. Essencialmente é um sistema anti-humano e anticristão. A fé em Cristo significa lutar contra o globalismo, cujo objetivo último é romper a conexão entre Deus e o homem, tornado o homem escravo e Deus irrelevante. O projeto metapolítico significa, essencialmente, abrir-se para a presença de Deus na política e na história”. Dito de outra forma, a globalização económica é entendida por Araújo como uma consequência do domínio ideológico do “marxismo cultural” propagado através da hegemonia exercida pelo PT nas universalidades, nas artes e na política. Todavia, dado que a intervenção estatal na economia e o protecionismo estavam associados à governação de Lula e Dilma, o neoliberalismo passou a ser entendido como um instrumento para quebrar a hegemonia da esquerda “petista”.
Um segundo aspeto que diferencia o populismo de Bolsonaro prende-se com a inexistência do discurso antiamericano historicamente conotado com os populismos latino-americanos. Bolsonaro abertamente reclama uma maior aproximação aos Estados Unidos, admitindo a sua disponibilidade para conceder ao país bases militares em solo brasileiro. Atendendo à existência de uma corrente direitista hostil a Washington entrincheirada nas forças armadas, a mera possibilidade de conceder bases a Washington configurava uma viragem significativa na política externa do Itamaraty. Justificando este tilt relativamente aos Estados Unidos, Bolsonaro apontou a necessidade de reduzir a dependência do Brasil em relação à China. Em pleno contraste com o internacionalismo terceiro-mundista do PT, o nacionalismo de Bolsonaro constitui uma um repúdio global do legado do partido. É justamente neste ponto que reside a coerência política e discursiva do presidente brasileiro, assim desfazendo a aparente anomalia do seu populismo.
Conclusão
Ao anunciar a intenção de restituir a grandeza dos Estados Unidos, Donald Trump propôs-se resgatar Washington das “elites corruptas” que, ao longo de décadas, transformaram a cidade num “pântano” de incompetência responsável pelo declínio do país. Por outras palavras, e à semelhança de outros populistas, reproduziu a narrativa quanto à decadência nacional provocada por elites corruptas e a necessidade de eleger um líder forte capaz de consumar a ruptura com o establishment e efetuar a “regeneração” nacional. Recorde-se que um dos pilares estruturantes da política externa de Trump é a rejeição dos acordos comerciais mais emblemáticos das últimas décadas que efetivamente consolidaram a globalização. Se é verdade que o presidente mantém que não se opõe ao comércio livre, também é verdade que se declara desfavorável ao “comércio injusto” instituído por tratados como o NAFTA e consubstanciado no relacionamento comercial com a China. Voltar à “América grande” obriga, pois, a uma revisão profunda das regras e das instituições que têm moldado o globalismo.
Também os partidos e movimentos populistas europeus conduziram, ao longo das últimas décadas, a uma luta sem quartel contra as elites “europeístas”. Entendida como a expressão regional da ordem globalista, Bruxelas passou a ser identificada como a fonte principal dos problemas nacionais. Na medida em que as dificuldades do processo de integração se acentuaram no contexto da crise internacional iniciada em 2008, a mensagem de “resistência cultural” disseminada pelos partidos populistas encontrou eco junto dos eleitores. Face aos anseios provocados pela insegurança económica e cultural que tem alastrado pelos países ocidentais, os populistas advogam, como alternativa política, o reforço do Estado como instrumento para retomar o “controlo” dos destinos das comunidades nacionais. Com efeito, o populismo europeu configura uma tentativa de utilizar o Estado nacional, e a mobilização nacionalista, para responder às inseguranças económicas e culturais provocadas pela globalização.
Convém reconhecer que o populismo passou a ser um elemento permanente, estruturante da paisagem política europeia contemporânea. Dito de outra forma, num horizonte previsível, o populismo veio para ficar. Acrescenta-se que o destino destes partidos é indissociável da vaga mundial populista que tem levado inúmeros homens fortes ao poder nos quatro cantos do mundo. A breve prazo, dois fatores são especialmente determinantes para os populistas europeus. Primeiro, e mais importante, a eventual reeleição de Donald Trump em 2020. Caso volte a conquistar a Casa Branca, Trump continuará a desmantelar a ordem globalista e, assim, provocará um “efeito contágio” que seguramente reforçará os populistas continentais. Segundo, a condução do processo Brexit, e os seus resultados socioeconómicos, terá uma influência decisiva nas estratégias populistas e junto da opinião pública que teme as consequências inerentes à desintegração da União Europeia. Trata-se de uma espécie de “test case” cujas repercussões serão sentidas muito para além das fronteiras do Reino Unido. De qualquer forma, convém não ignorar que os populistas são os “canários da mina” das democracias pluralistas que alertam para anseios e disfuncionalidades potencialmente devastadoras para as liberdades.



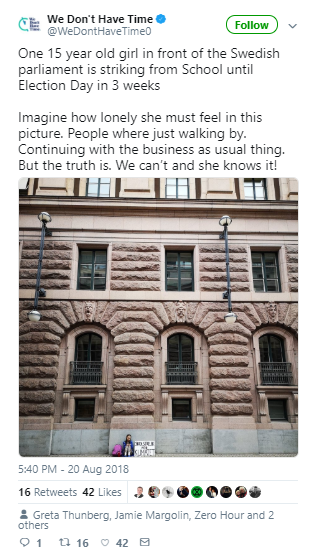

Comentários
Enviar um comentário