SOLVE ET COAGULA: Da Húbris ao Advento do Anti-Cristo
"A Queda de Satanás", no Paraíso Perdido de Milton, por Gustave Doré
I
Reza a lenda, ou neste caso uma carta escrita por um irado Johann Georg Hamman, que num final de tarde agradável de 1768 em Konigsberg, Immanuel Kant, em amena conversa com o seu amigo e mercador inglês Green, dissertava sobre os magníficos avanços da ciência e louvava os novos conhecimentos astrofísicos. Empolgado, conta-nos Hamann, assumiu Kant sem problema algum que o conhecimento astrofísico tinha então atingido uma perfeição tal que nele seria agora impossível que coubessem novas teses.
A arrogância do cientista-filósofo caiu mal a alguns, a Hamman em particular que detestava o cientismo e a exaltação racionalista, coisa que via como soberba. Curiosamente, foi o mesmo Kant que, a propósito do terramoto que poucos anos antes tinha assolado Lisboa em 1755, escarnecia dos tolos que viam na tragédia lisboeta um sinal, ou uma prova, de uma especial fúria divina libertada como pagamento por pecados e ofensas portuguesas: “o Homem tem, na verdade, tamanha presunção que, pura e simplesmente, se julga o objectivo único das acções de Deus”, reclamou Kant, ilibando os nossos antepassados de especiais responsabilidades no terramoto que assegurava ele ser natural — por natural entenda-se divinamente não intencionado.
No entanto, muito mais significativo em termos de presunção, é o facto de ser precisamente da mente e da pena Kantiana que se solta a húbris que com facilidade vislumbramos nas entrelinhas das suas proclamações, desde aquelas como aquela acima citada, mais descontraídas e ventiladas em ambiente tertúlia, até, naturalmente, as outras, as mais sérias e que, a seu tempo, mudariam o mundo: refiro-me às ultra sistemáticas, totalmente explicativas da razão, da mente, do mundo e da vida, do tempo e do espaço, ou também da ordem e da espontaneidade e, concomitantemente, da moral e dos costumes, tal como, ainda, dos pensamentos e das sensações, do entendimento e da sensibilidade, dos opostos e dos sinónimos, do belo e do sublime, de Deus e das coisas em si mesmas, do puro e do subjectivo, da sensação e dos fenómenos, enfim, e em suma, de tudo e do Todo, devidamente organizado, listado, sistematizado.
Não foi, portanto, à toa que Nietzsche vislumbrou na colossal obra Kantiana, mesmo que de forma disfarçada, quiçá involuntária, o feito mais significativo dos últimos milénios: se Cristo tinha trazido a revolução de Deus ao mundo dos homens, Kant teria, no culminar da reacção humanista, premido o gatilho final no maior homicídio imaginado na história da Humanidade: o de Deus, Ele próprio. Nem a tanto se tinha proposto Kant, muito pelo contrário, mas quis a História que de tamanha presunção de sapiência resultasse verdadeiro terramoto intelectual, um terramoto nesse outro plano tão violento quanto o de Lisboa e, como veremos, de consequências não-intentadas muito mais devastadoras também.
Mas, desde logo, por que razão acusou Nietzsche o filósofo de Konigsberg do homícidio divino? A razão é simples ou, no caso, pura e prática: Kant, entre muita sistematização, na sua ‘Metafísica dos Costumes’ desenvolve um instrumento teórico — o imperativo categórico: “age como se a tua acção configurasse uma norma universal” — que, como consequência, apesar de na prática configurar pouco mais que uma pequena variação moderna da Regra de Ouro bíblica — “faz aos outros o que esperas que te façam a ti” — sistematiza uma representação da origem do comportamento moral independente de Deus. Ou seja, ao legar uma nova máxima que devemos seguir como norma de comportamento moral, apesar de na prática pouco alterar o resultado do julgamento individual, na forma como justifica essa máxima categórica, Kant revoluciona a fonte do julgamento moral: Deus, outrora conhecido pela Revelação e desde sempre a origem e a base moral da sociedade, passa agora a ser assumido como estando envolto em mistério e impenetrável desconhecimento. Kant “mata” Deus não porque o renegue, coisa que nunca fez, mas porque o tornou dispensável para o julgamento do comportamento moral dos homens. Na prática, Deus pela mão de Kant passou então o testemunho do julgamento sobre o Bem e o Mal àquele indivíduo — eu, tu, nós — agora munido do imperativo categórico, um imperativo moral que descobre por si próprio, sem outra Revelação que não a racional. Do mesmo modo, a responsabilidade para agir moralmente, sem interferência divina, religiosa ou moral a priori, desce para a esfera de acção individual humana. Ou seja, na procura de uma solução racional e moral para o dilema moral da Humanidade, como subproduto, Kant tornou Deus, e com Ele a Igreja, moralmente irrelevantes.
"Não foi, portanto, à toa que Nietzsche vislumbrou na colossal obra Kantiana, mesmo que de forma disfarçada, quiçá involuntária, o feito mais significativo dos últimos milénios: se Cristo tinha trazido a revolução de Deus ao mundo dos homens, Kant teria, no culminar da reacção humanista, premido o gatilho final no maior homicídio imaginado na história da Humanidade: o de Deus, Ele próprio"
Da Crítica Kantiana ao homicídio Divino, e deste ao crepúsculo da moral Cristã no Ocidente, assim falou, ou avisou — sem o lamentar, é certo — o presciente e consciente Nietzsche: sendo para ele o universalismo racionalista Kantiano uma ilusão afinal como pode uma ordem moral aguentar-se de pé quando o seu alicerce divino lhe é retirado debaixo dos pés?
A esta questão muitos tentaram responder ou, em não sabendo a resposta, optaram por, entre dentes, explicar que no dia em que as massas acordassem para a pergunta tudo, e por tudo entenda-se “ordem”, estaria perdido. Freud, por exemplo, em 1927, defendia a importância da religião que, mesmo assumida como uma ilusão, garantia uma forma de controlar os instintos auto-destrutivos da própria Humanidade. Para ele, almejarmos imaginar uma futura sociedade Ocidental sem religião implicaria uma doutrina alternativa que, por um lado, mantivesse as características psicológicas religiosas do Cristianismo e que, por outro, garantisse o carácter sacro, formal e rígido da religião — uma defesa da necessidade do dogma e do culto como forma de estabilidade social, portanto.
Mas, em boa verdade, o dogma que haveria de intentar substituir o Cristianismo já germinava há muito na psique ocidental. Pelo menos, desde que a húbris de Kant revolucionou — literalmente, como Copérnico —a relação do Homem com o mundo e aplicou no campo da filosofia o legado maior do antropocentrismo: o mundo moral que passou a orbitar o indivíduo, o novo centro, onde cada um constrói na sua subjectiva percepção a sua particular realidade, incluindo, como vimos, a moral.
Deste modo, o legado racionalista-transcendental Kantiano colocou o homem no centro, na base, e, uma vez que trata sempre de entidades racionais e não meramente humanas, tal como as suas máximas são sempre universais, não apenas no centro do mundo mas do próprio Universo. Mas a revolução Kantiana foi mais longe. Ao retirar Deus da equação moral, Kant abriu caminho para a substituição conceptual deste pela própria Razão. Onde antes Deus figurava como a fonte, o chão, a origem, do Bem e da Verdade, da Justiça e da Luz que Iluminava o Mundo e o Homem, passou agora a surgir a Razão, a herdeira de Deus no tempo da secularização moderna. Senão vejamos: também a Razão, para os Iluministas, é Boa, porque Verdadeira, é Justa, porque Racional, e também, como o próprio nome do movimento indica, Ilumina o Mundo e o Homem com a sua Luz, afugentando as trevas obscuras das tradições, do irracionalismo, da injustiça e da desigualdade.
Para sermos correctos, não foi difícil a esta noção triunfar no Ocidente Cristão: afinal, para o pensamento Cristão desde a tradição de Santo Agostinho à de São Tomás de Aquino, o que era racional coincidia com o que era bom e sempre configurou uma expressão de Deus. Do mesmo modo, não foi também difícil conciliar esta ideia racionalista com as bases clássicas do Ocidente: afinal, já para Platão o Bom e o Racional, no seu ponto mais formal, tinham que ser coerentes, conciliáveis, harmonizáveis. A Razão aparecia então agora em todo o seu esplendor: divina, sublime, iluminante. Morto Deus, pelo menos conceptualmente, a Razão ocupava agora o Seu lugar: no centro do Mundo, a dona e senhora do destino do Homem, um destino que este agora, como Prometeu, ao ter acesso directo através da sua própria faculdade racional, resgatava do regaço Divino, enquanto imaginava empunhar por si próprio, para si próprio, a tocha da sua própria liberdade. A idade secular, como Taylor chamou, é além da idade da emancipação humana simultaneamente a idade da divinização da Razão. Todo este processo, como vimos, tem origens muito distantes, é certo. Mas, como Nietzsche percebeu, é mais proximamente a Kant que devemos o ensejo do assalto final.
"Freud, por exemplo, em 1927, defendia a importância da religião que, mesmo assumida como uma ilusão, garantia uma forma de controlar os instintos auto-destrutivos da própria Humanidade. Para ele, almejarmos imaginar uma futura sociedade Ocidental sem religião implicaria uma doutrina alternativa que, por um lado, mantivesse as características psicológicas religiosas do Cristianismo e que, por outro, garantisse o carácter sacro, formal e rígido da religião"
Daqui, a húbris humana fez o seu caminho. Passando por Salomon Maimon que aboliu a distinção essencial entre matéria e ideia, ou espírito, tornando tudo matéria do espírito racional; e culminando em Hegel que organiza todo o processo histórico numa narrativa espiritual-racional que, apesar de a maior parte das pessoas disso não se aperceber, ou compreender — excepção seja feita a Hegel, naturalmente —, garante um fio condutor, e um telos, um destino, para a História. O processo histórico ganha então uma narrativa, um propósito espiritual, racional e, portanto, passível de ser compreendido, descodificado e, consequentemente, controlado.
Uma vez conhecido o processo, entrevisto o destino, alguns mais optimistas argumentaram, tal como naquele jardim em 1769, que mais nada ficaria por conhecer, agora não tanto na astrofísica mas na própria filosofia, bem como na História e no futuro da Humanidade.
No entanto, como sabemos, as voltas teóricas e ideológicas do Século XIX e depois do XX estariam ainda muito longe de estar definidas — o constantemente proclamado fim da História ainda estaria longe de ocorrer. Desde logo, Marx, apropriando-se do legado Hegeliano, vira o absolutismo idealista daquele de cabeça para baixo e reduz a narrativa histórica do espírito apenas ao plano material, ou seja, ao processo histórico real e às relações de poder na própria sociedade humana. A Tese, Antítese e Síntese de Hegel passam a ser lidas na perspectiva Marxista como lutas de classe, ou sistemas, não faltando o telos, agora materialista, o Comunismo, essa nova promessa do Paraíso. O Marxismo é, desse modo, profundamente engenhoso ao coligar duas ideias fundamentais: por um lado, a narrativa idealista Hegeliana; pelo outro, uma apologia do materialismo, tornando a teoria uma coisa palpável, identificável e que com o seu “historicismo” lhe conferia aura “científica”.
Helás, aí temos uma teoria que, mantendo o Homem no centro existencial, tudo explica, tudo prevê e, porque pseudo-científica, permite revelar uma Verdade sobre o mundo que, agora reduzido ao material, mas sendo racional, logo universal, portanto moral, implica aceitação na boa tradição racionalista por parte de todos os seres racionais. Deste modo, passa a ser possível “saber-se” que aquilo que um indivíduo deve fazer também deverá ser forçosamente aquilo que todos os outros devem fazer. Um novo dogma, portanto; e, mais significativo, um dogma que obriga à acção colectiva — o que vale racionalmente para mim, porque é racional, logo verdadeiro, então é forçosamente aquilo que vale para ti também.
Há aqui, naturalmente, uma perversão do ideal científico ao pressupor-se, como Popper explicou, a possibilidade de poder conhecer-se de forma científica uma verdade de forma definitiva e imutável. Mas, não obstante, esse é o legado da fusão do racional com a moral: se, tal como advogou Kant, existe um padrão universal a priori simultaneamente moral e racional que torna possível uma compreensão moral racional individual, ou seja, uma moral compreendida através da razão e, depois, se essa resposta deverá ser entendida como uma máxima universal, então indivíduos diferentes em situações iguais deverão decidir e agir da mesma forma. Da forma que está racionalmente correcta. Esta é a porta do colectivismo, por muito que Kant não o desejasse e, quiçá, não o tivesse sequer compreendido.
Mas, a este alçapão, Marx acrescentou ainda o poder da narrativa Hegeliana. Apesar de retirando da sua própria teoria a — admitamos — obscuridade espiritual idealista de Hegel, soube Marx aproveitar aquilo que de mais poderoso aquela lhe oferecia: um modelo que organizando o passado num todo histórico harmonioso lhe permite o dom máximo do super-homem: o da profecia. Compreendendo o passado e o sistema que o fez mover rumo ao presente tornou-se então possível a crença de poder prever o futuro — assim nasceu a profecia Marxista.
Deste modo, o desígnio de Freud supra-mencionado já estava então cumprido, ou pelo menos publicado, antes do próprio Freud nascer: a nova religião nascida do seu Adão Kantiano, proclamada pelo Profeta Marxista, vertida na bíblia do Manifesto de 1848, propagandeada pelos apóstolos comunistas que anunciam o paraíso na salvação prometida através da conquista dos ideais — o Bem, a Verdade, a Felicidade, etc. — todos em simultâneo, todos para sempre.
A salvação Comunista que nos é prometida, repare-se, opera-se já não no Sempiterno Além próprio das religiões mas, precisamente porque é uma teoria reduzida ao material, decorre no aqui e agora da vida no mundo real, coisa muito mais agradável ao ouvido, convenhamos, porque, desde logo, é vendida e comprada antes da inconveniência da morte. Do mesmo modo, não menos importante, promete facilidades e delícias terrenas — a cada um de acordo com as suas necessidades — ao invés do tradicional apregoar Cristão de infinitas dificuldades e agruras na vida terrena.
Cristo carregou a Cruz, tal como nós carregamos simbolicamente a nossa, diria o Cristão, porque o mundo é árduo e pejado de dificuldades. No entanto, assim não tem que ser, responde agora o Marxista: através da apregoada revolução, libertemo-nos daqueles que nos colocam a ilusória cruz aos ombros e que com ela nos condenam a uma vida de escravidão e, desse modo, desaparecerão todas as dificuldades.
"esse é o legado da fusão do racional com a moral: se, tal como advogou Kant, existe um padrão universal a priori simultaneamente moral e racional que torna possível uma compreensão moral racional individual, ou seja, uma moral compreendida através da razão e, depois, se essa resposta deverá ser entendida como uma máxima universal, então indivíduos diferentes em situações iguais deverão decidir e agir da mesma forma. Da forma que está racionalmente correcta. Esta é a porta do colectivismo, por muito que Kant não o desejasse e, quiçá, não o tivesse sequer compreendido"
Ópio por ópio, admita-se que o novo é mais atreito a sucesso marqueteiro: onde o Cristão via na Cruz a Salvação que consigo carregava simbolicamente ao peito, passou o Marxista a ver o símbolo da sua própria opressão. Assim, as inevitáveis dificuldades do mundo ao invés de serem características naturais da realidade passaram a ser legados da opressão sistémica dos poderosos sobre os mais desfavorecidos. Mais: o determinismo histórico que alumiava o caminho Marxista garantia o sucesso final da causa.
Mudar o sistema tornou-se então sinónimo de transformar a realidade. E a Cruz o símbolo daquilo que deve ser rejeitado — o sofrimento — em nome da Salvação. Aceitar o credo Comunista implica, pois, dar um primeiro passo rumo à edificação desse mundo novo, rejeitando a possibilidade do paraíso espiritual Cristão em nome de um novo paraíso terreno, material, o verdadeiro início da História.
Se Kant colocou a Razão no lugar de Deus, Marx colocou a vida terrena, o mundo material e a própria noção de paraíso acima dos seus anteriores congéneres espirituais. A revolução estava então completa e um novo credo nascera.
II
Do mesmo modo como o Cristianismo haveria de demorar três séculos a sentar-se no Trono de Roma, também a nova religião marxista teria que saber esperar. Desde logo, perseguidos como revolucionários, mesmo que não deitados aos leões do Coliseu, não deixaram de, como por exemplo em Portugal, ainda durante o Século XX, ir passar martirizadas temporadas a Peniche ou ao Tarrafal.
Nos entretantos, apóstolos mais zelosos e competentes, em vagas sucessivas, já haviam intentado cumprir a palavra da nova religião: na Rússia, na China, e em mais uns quantos lugares de menor expressão, não deixando no entanto de serem coerentes com os outros maiores na matança, no chicote e no estropianço. Mas esses sucessos que os marxistas de hoje e demais apóstolos vêem com saudade — no caso Russo — ou com volúpia curiosidade e esperança — no caso Chinês —, não passaram de pronunciamentos sobre o que há-de vir ainda, o tal telos, pois que, paradoxalmente, esses sucessos inicialmente colocavam em causa a própria palavra da nova religião. Marx havia profetizado que o comunismo seria o corolário lógico e consequente do capitalismo: como justificar então o advento da nova ordem mundial logo ali nos arrabaldes civilizacionais da Eurásia, onde o capitalismo nem havia chegado ainda — na Rússia campestre do Dvor não existia sequer a noção de propriedade privada individual, por exemplo —, ou no Oriente exótico e, apesar de sedoso, paupérrimo, atrasado e não-industrializado? Ora, foi por esse atraso que não resultou, dizem logo os apóstolos comunistas. Ou, a contrario, dirão os hereges para a nova religião, foi precisamente por esses atrasos que resultou, não o comunismo, mas pelo menos a revolução. A questão passou a ser então como fazer triunfar a nova religião no rico Ocidente, o centro cultural da Civilização.
"Marx havia profetizado que o comunismo seria o corolário lógico e consequente do capitalismo: como justificar então o advento da nova ordem mundial logo ali nos arrabaldes civilizacionais da Eurásia, onde o capitalismo nem havia chegado ainda — na Rússia campestre do Dvor não existia sequer a noção de propriedade privada individual, por exemplo —, ou no Oriente exótico e, apesar de sedoso, paupérrimo, atrasado e não-industrializado?"
Soljenítsin, quiçá ainda a tempo, em 1978, discursando para a intelligentzia reunida em Harvard, alertou para a decadência Ocidental. Sem rodeios, enumerou os problemas: a corrupção dos valores e a fraqueza dos alicerces morais, a falta de coragem, o materialismo abundante e a burocracia legalista, a superficialidade da moda transformada em censura de quem a ela não adere, a exaustão espiritual e os perigos das loas ao socialismo que iam corroendo as academias. A presciência do perigo da moda superficial ressoa particularmente perto hoje, passados pouco mais de 40 anos: um comportamento geral mimético em incessante busca do novo, mas particularmente intolerante para com o indivíduo que não adere à nova moda.
No entanto, em boa verdade, já há muito grassava o vírus da nova religião no Ocidente: nas academias, nos organismos estatais, nas redacções, nas escolas. Os sucessores na cadeira de Marx, nomeadamente os da Escola de Frankfurt, compreenderam que a guerra pela nova religião, sob pena da inutilidade, teria sempre que ser cultural. Onde Marx havia analisado a industrialização e as relações económicas, para os seus discípulos de Frankfurt Marx deixara de fora o papel fundamental da cultura de massa na aceitação social do sistema capitalista. Desde a literatura, à música, ao cinema, culminando mais tarde na rádio e na TV, para os novos Marxistas, as artes ao serviço do sistema capitalista influenciavam e determinavam o progressivo adormecimento dos indivíduos na torrente cultural massificada que os ia moldando a uma concórdia passiva, resignada, inconsciente.
Daqui nasceria a “teoria crítica” que viria completar o original Marxista, explicar o sucesso capitalista, o insucesso da revolução Marxista no Ocidente e, naturalmente, e como pioneiro Horkheimer definia, apresentar soluções para os problemas encontrados, soluções essas que visavam a emancipação da escravatura, agora não apenas económica e religiosa, mas também, e principalmente, cultural e intelectual.
Acresce ainda, para os mais cépticos, a necessidade de uma reacção Marxista à bonança e à riqueza geradas pelo enorme progresso material no pós-Segunda Guerra Mundial. Perante a escassez de oprimidos económicos gerada pelo sucesso do sistema capitalista, os novos apóstolos marxistas trataram de — precisamente através da escola, da redacção e da academia — descortinar novos oprimidos que a nova boa nova da nova religião viria prometer libertar. Seriam estes as minorias, sejam elas de facto ou inventadas a pedido, supostamente oprimidas culturalmente numa sociedade que , senão na altura, a seu tempo, perante a lei, as viria a tratar como iguais.
No entanto, repare-se, aquilo que esta visão identitária recusa é precisamente o princípio basilar da democracia liberal Ocidental: a igualdade perante a lei. De acordo com os apóstolos na nova religião, a igualdade perante a lei configura uma opressão ao não dirimir a desigualdade social que eles identificam na comunidade, sendo o objectivo o da emancipação do indivíduo face aos constrangimentos culturais e sociais que o limitam, exige-se acção e não apenas um princípio passivo que impede o progresso social.
Abriu-se desse modo a porta para a guerra identitária que fez o seu caminho até ao seu apogeu contemporâneo. Reduzindo o indivíduo às suas sub-identidades (sexo, raça, orientação sexual), precisamente aquelas que a instituição da igualdade perante a lei permiti hoje proteger, e generalizando aquelas à opressão — onde antes estava a classe — logo o marxista descobriu a gazua para a divisão social — dividir para reinar, recordemos, o mote de Maquiavel para o sucesso — e para, simultaneamente, a coletivização social: passando o indivíduo a ser caracterizado pelas suas (sub)identidades, e sendo estas colectivamente caracterizadas, então o indivíduo deixa de valer como tal, pelo contrário, vale, ou pelo menos é avaliado, pelos diferentes colectivos que nele se manifestam individualmente.
"Onde Marx havia analisado a industrialização e as relações económicas, para os seus discípulos de Frankfurt Marx deixara de fora o papel fundamental da cultura de massa na aceitação social do sistema capitalista. Desde a literatura, à música, ao cinema, culminando mais tarde na rádio e na TV, para os novos Marxistas, as artes ao serviço do sistema capitalista influenciavam e determinavam o progressivo adormecimento dos indivíduos na torrente cultural massificada que os ia moldando a uma concórdia passiva, resignada, inconsciente"
Ou seja, uma pessoa deixa de ser simplesmente uma pessoa para passar a ser um mero foco de manifestação de uma certa raça ou sexo, e consoante seja de uma certa raça ou de um certo sexo o tratamento legal da comunidade deve ser diferente. Para além do evidente caráter racista e sexista de uma sociedade assim pensada, sobra ainda a questão do colectivo — por exemplo todos os que partilham determinado sexo — sobrepor-se ao indivíduo. Um pessoa passa a ter direitos em função de características partilhadas, não em função da sua dignidade enquanto indivíduo. Esta alteração representa a completa perversão da ordem liberal: o indivíduo deixa de existir como tal.
A gazua marxista actua assim a dois níveis: desde logo revelando oprimidos que de outra forma nem se imaginariam como tal, e desse modo, fomentando dissensão e insatisfação, bem como, a um segundo nível, colocando o problema, e a correspondente solução, sempre num plano colectivo, incluindo a problemática da identidade de cada um estilhaçada ao nível individual e colectivizada pela generalização que passa a qualificar os próprios indivíduos, não enquanto tal mas enquanto grupos.
Pior: para além da abdicação da soberania individual face ao colectivo — a génese do autoritarismo, portanto — todo um moroso e espinhoso caminho que foi percorrido no Ocidente ao longo dos séculos para ordenar moralmente a sociedade por um exemplo, um telos, de ascensão espiritual, de melhoria individual, assente em direitos e deveres, pretende-se agora substituir pelo seu exacto oposto: onde o ónus da decisão residia dentro do indivíduo passa agora a assentar no colectivo, onde o caminho era antes de ascensão espiritual passa agora a ser apenas de concretização material (colectiva), onde o processo de melhoramento era ontem particular a cada um passa a ser hoje universalmente partilhado por todos — o colectivo.
Para os advogados do novo credo marxista, o homem não se transforma a si mesmo, ele é transformado exteriormente pela força do colectivo. Esta é simultaneamente a grande promessa — uma facilidade no acto da transformação que, deixando de assentar na sempre pesada responsabilidade individual, passa a ser oferecida de mão beijada — e o grande perigo — o triunfo do Estado e do colectivo social sobre os indivíduos, o preço a pagar pela prometida libertação do fardo da responsabilidade individual.
III
Talvez a elite aristocrática e burguesa do Século XIX e início do Século XX, para lá das aventuras próprias da rebeldia da juventude, longe das reais agruras do campesinato ou do proletariado, não prestasse a devida atenção à palavra do Manifesto. Talvez isso explique que tenha passado despercebido o advento da nova religião ou, pelo menos, o verdadeiro substracto em que, a cada dia, aquela minava os alicerces da ordem liberal. No entanto, hoje, uma vez que a democratização das redes sociais nos trouxe todos ao encontro da multidão, e que os novos apóstolos trataram de encontrar novas vítimas, bem como enormes e improváveis aliados, fica bem evidente que a batalha já se trava em plenas ruas das cidades e vilas Ocidentais.
"quando bem visto, os mais aguerridos militantes revolucionários da extrema-esquerda comunista, mesmo os que assumem um visceral anti-Cristianismo, são precisamente aqueles que mais procuram imitar, pelo menos inconscientemente, a doutrina Cristã"
Curiosamente, as parecenças estruturais entre a ordem liberal assente na moral Cristã e a nova ordem Marxista que se anuncia continua a escapar, inclusive aos espíritos mais esclarecidos que desvalorizam a agitação popular como fenómenos sem grande importância face ao bem estabelecidas consenso democrático e liberal. Mas, pelo contrário, o momento é particularmente relevante, quer pelo perigo que manifesta, quer pela evidência que revela: o conflito ser muito mais profundo e de difícil solução que se possa à primeira vista imaginar.
Senão vejamos: quando bem visto, os mais aguerridos militantes revolucionários da extrema-esquerda comunista, mesmo os que assumem um visceral anti-Cristianismo, são precisamente aqueles que mais procuram imitar, pelo menos inconscientemente, a doutrina Cristã.
Primeiro, quanto ao exemplo. Assim como Cristo resumiu em Si todos os males do mundo — o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo — assumindo o papel maior possivelmente imaginável de vítima da injustiça, da mentira, da traição e da opressão, injustiça essa sublimada na Cruz, também o militante recrutado pela novo Marxismo se imagina o mais injustiçado do mundo: sobre ele recaem as maiores iniquidades, infâmias e opressões, desde as económicas às sociais, desde as sexuais às raciais. Daqui se justifica um discurso — a Mensagem — supostamente também ele, tal como o Cristão, assente na protecção dos oprimidos e das vítimas do mundo, apelando ao Amor, à Fraternidade, à Igualdade, e demais ideais com letra capital. O discurso da nova religião, apesar de outra roupa, é muito pouco original, convenhamos. Do mesmo modo, a base do poder, tal como Nietzsche denunciou no próprio Cristianismo, reside na fraqueza da vítima que, partindo dessa fraqueza, dessa vitimização, conquista o direito moral a dominar o mais forte, o opressor. O mecanismo, mesmo que sem a fonte (Deus), de conquista de autoridade moral, portanto, do Marxismo é estruturalmente plasmada do Cristianismo.
Segundo, quanto à Promessa. A terra prometida comunista, não no Israel Judaico nem no Além Cristão, é certo, mas no aqui e agora da vida material contemporânea, é também uma libertação para o paraíso agora na Terra, e o triunfo perfeito das virtudes sobre os defeitos: o advento do Homem perfeito e virtuoso, igualmente despojado da ganância — mais facilmente passa um camelo pelo buraco de uma agulha do que entra um homem rico no paraíso comunista — e assente na noção da auto-criação do Homem Novo, auto-gerado porque pseudo-divino, a apoteose do ideal humanista que vem substituir a figura de Cristo como modelo de vida.
"No fundo, o paraíso marxista que nos é prometido resume-se a um regresso, não ao Admirável Mundo Novo que também prometem, mas ao antigo Paraíso, o original, o de Adão e Eva, onde o Homem se manteve infantilmente até à sua maturidade"
O “paraíso” marxista é, pois, um desígnio aberto a todos os que abracem a ideologia marxista, aceitem a doutrina salvadora e, desse modo, transcendam as suas limitações, não pelo trabalho na ordem capitalista e o sacrifício espiritual da penitência Cristã, mas, em alternativa, pelo simples facto de abraçar o novo credo e deixar-se engolir pelo colectivo. Neste, como vimos, passa então a residir a responsabilidade pelas escolhas, desse modo libertando os indivíduos da sua mais pesada Cruz: o dilema da escolha a que estamos naturalmente obrigados, a liberdade forçada da decisão pessoal sobre o nosso próprio destino individual.
No fundo, o paraíso marxista que nos é prometido resume-se a um regresso, não ao Admirável Mundo Novo que também prometem, mas ao antigo Paraíso, o original, o de Adão e Eva, onde o Homem se manteve infantilmente até à sua maturidade, a qual, numa das muitas interpretações do mito da Criação, é ali revelada pela simbologia fálica da serpente em conjunto com a fertilidade feminina da maçã coligadas no momento em que Eva aceita o fruto proibido.
A realidade particular das nossas vidas ali simbolizada, resume de forma meta como a maturidade humana deriva da condição existencial humana em que a saída da infância brota do facto de, enquanto adultos, termos que enfrentar dilemas sobre o Bem e o Mal, sobre a Vida e a Morte, sobre se preferimos o sol na eira ou a chuva no nabal. Daqui, deste forçar à escolha, ao dilema, advém um conhecimento verdadeiro sobre a Vida e o Mundo, e que nos força à Queda, ou seja, a mergulhar no mundo, um mundo e uma vida feita de opções, perdas e impasses, limites e agruras, as tais bem simbolizadas no Cristianismo pela Cruz que carregamos, e na qual morremos, seguindo o exemplo de Cristo.
Tudo isto o Marxista promete reverter. No fundo, acenando com o confortável manto da infantilidade, da irresponsabilidade pessoal, da ilusão pueril de que, tal com no paraíso perdido da infância, ao invés de termos que optar entre valores incompatíveis, podemos permitir-nos a sonhar com o sol na eira e a chuva no nabal simultaneamente. Neste sentido, apesar do formato copiado, e de uma estrutura semelhante, na sua essência, o caminho do Marxismo é de sentido oposto ao do Cristianismo: onde o último promete um paraíso com ascensão e maturação espiritual o primeiro, apesar de não o dizer, configura o anseio inconsciente de uma profunda regressão espiritual — no caso, à infância. Deste modo, através da crescente infantilização social dos dias de hoje também conseguimos aferir o sucesso, ou pelo menos as condições para que esse sucesso aconteça, deste novo credo na cultura e na psique contemporâneas.
Terceiro, quanto ao Pecado. Para a nova religião marxista não apenas a riqueza representa um pecado contra a Humanidade mas, pior, também a noção de pecado original é agora no zeitgeist comunista do Século XXI importada para vergastar as costas largas de qualquer incauto que não se submeta ao novo credo. Assim, a par da raça (branca), também o sexo (masculino) e a orientação sexual (hetero), são consideradas vantagens indevidas, logo pecados originais que exigem expiação ou, no linguarajar agora comum, “reparação”. O pecado último, naturalmente, será o de não abraçar a nova religião e o poder dirigente dos seus apóstolos neo-marxistas. Até que ocorra esse momento final de capitulação, para os adeptos do culto marxista não pode haver virtude que seja reconhecida no herege. Assim, qualquer negociação é proibida: o combate é infinito até à vitória final — e quem não adere comete o pecado capital de não aderir, ou seja, a heresia que se paga com o ostracismo social ou o apedrejamento cibernético.
"Marx fez ao Cristianismo, então, precisamente o mesmo que fez a Hegel: aproveitou a estrutura e retirou-lhe a dimensão espiritual, reduzindo quer um quer o outro a uma sua interpretação material. Pior, no caso do Cristianismo inverteu-o, pervertendo-o: por debaixo de um invólucro-arquetípico formalmente semelhante abriga-se agora o conteúdo oposto daquilo que o original representava"
Em quarto lugar, também o Apocalipse faz parte da nova doutrina: para o advento do paraíso comunista requere-se a destruição e a morte das estruturas organizadoras do mundo antigo. Nada mais evidente, aliás, porque apenas destruindo o antigo se pode criar o novo. Daí resulta a necessária dissolução da hierarquia social e a decorrente violência pela qual secreta e inconscientemente anseiam. Desestruturar, dissolver — solve — para das ruínas construir o mundo novo — coagula. Solve et Coagula, o mote alquimista e que resume o carácter arquetípico, mesmo mitológico, da proposta Marxista: tudo dissolver para criar de novo, o expoente máximo do poder de criação do Homem. Onde antes a Criação era tida como um acto divino, agora, no culminar da revolução que colocou o Homem no centro, passa a ser precisamente este que detém o poder, o dever e a capacidade de criar o novo mundo, um mundo que reluz como o ouro que o alquimista prometia criar — e que nunca encontrou.
Assim, o Marxismo, incluindo a sua vertente identitária contemporânea ou, como comumente se pode apelidar de cultural, incorpora também o seu próprio mito da criação: apenas que ainda por acontecer. Do mesmo modo, incorpora também, e coerentemente com o acima exposto, a própria noção do divino criador, apenas que consubstanciada no próprio Homem. Uma vez mais a redução ao material se faz através do antropocentrismo.
Finalmente, em quinto lugar, a única coisa que sobra acima do Homem, supostamente, é a própria Razão que ocupa agora no novo sistema Marxista, por legado Kantiano, e como já vimos, o trono de Deus. É a ela que se recorre em busca da Verdade, do Bem e da Justiça. E ao racionalista cabe o papel de intérprete do decreto racional-divino — bem como o de julgador de quem merece ser premiado, protegido ou, também, taxado, controlado ou castigado.
Fonte do que é Racional, logo bom, justo, verdadeiro e universal, a Razão, como Deus o fora, serve simultaneamente de fonte de autoridade moral e de mecanismo através do qual o universo divino se manifesta em nós, apenas que, tal como toda a estrutura Marxista, material: onde a Religião espiritual via uma alma, ou um espírito, vê agora a religião materialista-racionalista uma faculdade química e biológica de racionalizar. Deste modo, mantém-se o divino no sistema, porque racionalizar implica apelar à Razão, é vivê-la dentro de nós, é ser seu servo e criado, implica praticar o Bem e a Verdade, ser Bom e Verdadeiro, bem como Racional. Ao mesmo tempo, materializa-se todo o sistema reduzindo a faculdade de racionalizar aos átomos e às moléculas que compõem o cérebro humano.
Assim, onde antes o conceito de “pessoa” incluía uma parte espiritual, o indivíduo racionalista inclui agora apenas o fantasma que Rawls imaginou na sua Posição Original por detrás de um véu de ignorância: um Eu racional, superior, justo, racional, despido de subjectividade, de preconceitos, perfeito e universal, longe de emoções ou inclinações, a abstracção do divino que habita a Humanidade, reduzido à sua faculdade racional. Mais: porque abstraído, destilado, purificado, logo pseudo-divino, o Eu racional que supostamente comanda a acção do Homem é, para todos os efeitos, apenas um: onde uma multidão de espectros, porque perfeitamente racionais, livres de qualquer resquício de humana irracionalidade ou emotividade, tudo analisa por igual e tudo decide por igual, sem margem para a subjectividade própria de cada indivíduo, então serem biliões de agentes ou apenas um não faz diferença no resultado.
"Num processo de desagregação moral e religiosa, sem Cristo, sem religião, sem espírito, abriu-se no vazio ontológico a oportunidade para um novo “software” moral do Ocidente: o Marxismo significa isso mesmo, um novo software, uma nova identidade, uma nova perspectiva do mundo, uma nova narrativa da História, em suma, e como prometeram abertamente, um Homem Novo"
A multidão reduz-se, portanto, à unidade do Eu racional que, por definição, será o mesmo em cada um de nós. A decisão racional, porque pseudo-divina e universal, é assim apenas uma. Una e indivisível, como Deus o fora, a Razão opera racionalmente através do entendimento humano e eleva os indivíduos ao seu real estatuto: o divino universal. Um divino universal que, como se pode ver, porque uno e indivisível, representa o colectivo humano. A vontade geral de Rousseau, a razão pura de Kant, ambas bebem e servem de fonte a esta ideia, ambas configuram largas avenidas que inapelavelmente desaguam sempre no resultado do colectivismo e que sustentam o caminho para a coletivização moral, logo também política e social da Humanidade.
Mas nem tudo se copiou do Cristianismo. Por exemplo, no centro da nova doutrina não pode evidentemente estar Cristo — que simbolicamente todos perdoou e que por todos morreu —, para o qual o culto Marxista não apresenta um real substituto, sobrando um código de conduta individual sem um verdadeiro modelo moral original. Por essa exacta razão, tal como se verifica na conduta própria dos Marxistas, não há, nem poderia haver, perdão. E, também porque não há Cristo também não há, nem poderia haver, um oferecer da outra face; isto porque sem Cristo, numa doutrina invertida, sem componente espiritual, limitada apenas à matéria, ao poder e à condição social e/ou material, cessa de haver o exemplo de humildade, abnegação, desapego e sacrifício, ideias que o Cristianismo exorta cada um dos seus seguidores a alcançar.
Por oposição, tudo no novo culto é centrado, como se viu, na premissa de que ao centro, ao invés do mundo ou de Deus, está o Homem e a sua satisfação plena — e já —, bem como a sua húbris. Centrados em nós próprios, cingidos ao material, faltará sempre o elemento que no Cristianismo prometia a Salvação do espírito ou que, mesmo vendo o Cristianismo de forma apenas simbólica, residia no plano imaterial, eterno, espiritual — divino, portanto — que, seja de que forma for, compreende sempre a dimensão espiritual da identidade e experiência humanas.
No entanto, no materialismo, por inevitabilidade conceptual, não há qualquer promessa de salvação espiritual — apenas material. Isso implica que a redução do arquétipo Cristão a uma única dimensão material é, como vimos, útil no sucesso da narrativa nova que se pretende impôr, porque corresponde ao arquétipo, mas o preço a pagar por ela será altíssimo: poderemos sequer imaginar o que é um ser Humano sem uma dimensão espiritual, qualquer que seja o modo como ela se manifesta? Talvez, aliás, seja precisamente essa redução da pessoa humana a uma dimensão meramente corpórea — uma amputação, portanto — que explique a constante tragédia, violência e mortandade sempre associadas à implementação de regimes de índole Marxista. Os princípios económicos poderão justificar a falência desses regimes, mas os filosóficos lançam claramente luz no lado negro, profundamente negro, do Marxismo sempre consubstanciado na contagem do número de mortos.
Marx roubou a Hegel a dialética, como vimos, e ao Cristianismo a estrutura — a tal que Nietzsche, poucos anos depois, denunciaria como sendo assente na vítima. E, como vimos também, pela cópia e pela inversão, o Marxismo impõe, mesmo que através de um mesmo arquétipo, o caminho oposto ao de Cristo. Neste sentido, o Marxismo representa na perfeição o papel do Anti-Cristo.
Marcel Gauchet explicou de forma contundente como foi a estrutura do Cristianismo que permitiu a saída da Religião — a secularização — mas, mais que isso, e como se intentou aqui aflorar, essa mesma estrutura Cristã — funcionando como um arquétipo, para utilizar uma terminologia Jungiana — permitiu também o sucesso do Comunismo, quer o pioneiro, quer o mais recente e disfarçado, o identitário e/ou cultural, que desse mesmo arquétipo faz uso e abuso seu para intentos próprios: Marx fez ao Cristianismo, então, precisamente o mesmo que fez a Hegel: aproveitou a estrutura e retirou-lhe a dimensão espiritual, reduzindo quer um quer o outro a uma sua interpretação material. Pior, no caso do Cristianismo inverteu-o, pervertendo-o: por debaixo de um invólucro-arquetípico formalmente semelhante abriga-se agora o conteúdo oposto daquilo que o original representava.
"o Comunismo não é simplesmente uma ideologia, mas sim uma religião; uma religião sem Deus, sem Cristo, sem Espírito, mas uma espécie de religião não obstante. Um culto, portanto. Um dogma que, uma vez aceite, não se questiona. Uma “verdade” que não se discute. Uma razão para se ser e para viver. Um sentido para uma existência material. Uma pedra onde assentar uma interpretação do mundo: própria, completa, total, logo totalitária"
O abuso do arquétipo justifica muito do sucesso e, precisamente porque se trata de um arquétipo religioso, e de um novo dogma, permite também responder à pergunta que tantos fazem hoje em dia nos sectores que procuram resistir ao avanço dos ideais marxistas: como é possível que uma ideologia que causou tantos mortos, tanta miséria, que literalmente falhou sempre e onde quer que tenha sido implementada, continue a fazer furor, a ter sucesso, a progredir, a ganhar adeptos, inclusive no Ocidente, essa civilização que garantiu a um maior número de pessoas a maior igualdade na dignidade, bem como a maior abastança e segurança, da História da Humanidade?
A resposta, como se viu, é que o Comunismo não é simplesmente uma ideologia, mas sim uma religião; uma religião sem Deus, sem Cristo, sem Espírito, mas uma espécie de religião não obstante. Um culto, portanto. Um dogma que, uma vez aceite, não se questiona. Uma “verdade” que não se discute. Uma razão para se ser e para viver. Um sentido para uma existência material. Uma pedra onde assentar uma interpretação do mundo: própria, completa, total, logo totalitária.
IV
De forma lúcida, Isaiah Berlin explicou em Oxford em 1958 o processo de como na visão racionalista do Eu dividido entre um Eu inferior, agarrado ao mundano, e um Eu superior, agarrado ao transcendente racional Kantiano onde se julga vislumbrar uma verdade racional, não só o Eu superior pode, e deve, impor-se ao inferior mas, como não pode deixar de acontecer, o Eu superior, como acima vimos, sendo racional, e partilhado, logo colectivo, representa a porta de entrada do jugo do colectivo sobre o indivíduo.
Como atrás notámos também, dividir o indivíduo para nele reinar o colectivo permite a gazua da coletivização: tal como em tempos passados através do dogma religioso se fazia o indivíduo conformar à vontade do intérprete da verdade canónica também agora sob a justificação da racionalidade, da suposta “verdade racional”, logo se impõe uma outra norma, um outro cânone, uma outra regra do colectivo sobre o indivíduo. A harmonização. A igualização. O dogma. A doutrina. A proibição da não-conformidade, da diferença, da particularidade. A apologia do universal, da vontade geral e racional. Apenas a voz do colectivo ecoará, ou deverá ecoar, nas mentes dos súbditos do novo culto. Esta é, aliás, a génese da força do Racionalismo cujo expoente máximo é o Marxismo: o de incorporar a promessa de dissolução do indivíduo e todas as suas agruras num colectivo harmonioso, perfeito, total, superior, quasi-divino ou, pelo menos, que substitui o anterior plano do divino espiritual por um plano pseudo-racional, logo pseudo-divino também porque lhe é transcendente. Onde o Cristianismo oferecia o conforto espiritual oferece agora o Marxismo o aconchego colectivo do destino partilhado: todos iguais, todos felizes, todos livres, sobretudo livres do fardo da responsabilidade individual.
A conversão, mesmo que involuntária, representa para o Marxista o inevitável destino de cada um de nós, e consiste na aceitação de uma nova “verdade”, uma pseudo-verdade que é inconciliável com a Ordem Liberal assente nos valores judaico-cristãos. Onde, na sua Carta, Locke assumia que a salvação quando imposta não seria uma verdadeira salvação, logo despida de valor, o Marxista permite-se a discordar: desde que se aceite a nova verdade como a governante, nem que seja pela força do chicote ou da ameaça, precisamente porque se reduz ao poder da vida terrena sem preocupação de verdadeira Salvação, a capitulação do adversário basta.
Sem mediação ou negociação possíveis, nas ruas, a agitação popular a que vamos assistindo é, assim, apenas o prenúncio de uma guerra muito mais violenta, muito mais avassaladora, há muito latente, e que apenas agora vai começando a revelar o seu verdadeiro rosto: a luta pela Verdade, pela conquista das mentes e dos espíritos, bem como pelos Valores, que guiarão doravante a conduta moral do Homem e que, devido a esse arauto moral, no futuro presidirão à organização das suas sociedades.
Num processo de desagregação moral e religiosa, sem Cristo, sem religião, sem espírito, abriu-se no vazio ontológico a oportunidade para um novo “software” moral do Ocidente: o Marxismo significa isso mesmo, um novo software, uma nova identidade, uma nova perspectiva do mundo, uma nova narrativa da História, em suma, e como prometeram abertamente, um Homem Novo.
Encurralados entre diferentes concepções da verdade, aos Ocidentais perdidos no vazio, sobra agora a célebre polarização crescente, progressiva, entre uns e outros, todos convencidos da sua verdade, todos incapazes de compreender o outro, um outro sempre possuído, num caso pelo novo culto e, no outro, pela superestrutura da tradição liberal judaico-cristã. Pelo meio, toda uma panóplia de indivíduos, por ventura a maioria, que se imagina como vivendo no mundo judaico-cristão onde ainda nasceu mas que, fruto da crença na ciência, da ignorância face à História, imersos na cortina de fumo mediática que Strauss tanto criticou e suficientemente separados do mundo pela abundância em que sempre viveram, ou pela paz que imaginam perpétua, toda essa massa, quiçá maioria, configura o objectivo colonizador cultural do Marxismo.
"Esta é, aliás, a génese da força do Racionalismo cujo expoente máximo é o Marxismo: o de incorporar a promessa de dissolução do indivíduo e todas as suas agruras num colectivo harmonioso, perfeito, total, superior, quasi-divino ou, pelo menos, que substitui o anterior plano do divino espiritual por um plano pseudo-racional, logo pseudo-divino também. Onde o Cristianismo oferecia o conforto espiritual oferece agora o Marxismo o aconchego colectivo do destino partilhado: todos iguais, todos felizes, todos livres, sobretudo livres do fardo da responsabilidade individual"
Entretanto, o antigo centro político-filosófico, moderado, e que nos últimos 70 anos alavancou o Ocidente, cai agora pela fraqueza, ou inexistência, dos seus alicerces morais, corroídos entretanto pelo caruncho civilizacional a que, na ausência de guião, ou base, moral, se permitiu, e continua a permitir, rédea solta. Ao contrário da Ordem Liberal secular assente num inexistente indivíduo racional e livre que se julgou bastar a si própria e aos seus superiores princípios, o Marxismo compreendeu que o verdadeiro sustento da ordem que visa substituir era cultural, moral e, na base, mesmo que apenas simbólico para muitos, religioso — no nosso caso Cristão. Neste aspecto, Freud tinha toda a razão: imaginar um Ocidente sem Cristianismo implica uma aceitação de um novo dogma que cumpra a mesma função. Infelizmente, o novo culto apresenta-se como totalitário e despreza a paz liberal que vê simultaneamente como fraca e opressora. Fraca, porque vazia de conteúdo; opressora, porque limitadora da real emancipação humana, uma emancipação face ao real e rumo ao ideal.
Para nós, hereges face ao novo culto, os outros, aqueles que por ele estão possuídos, parecem-nos loucos, isto até que, convertidos à loucura generalizada, a cumprir o apelo à conformidade, nos tornemos nós tão loucos quanto eles. Vem a propósito uma música dos Pink Floyd que desta perspectiva se torna perfeitamente oracular:
"The lunatic is on the grass
The lunatic is on the grass
Remembering games and daisy chains and laughs
Got to keep the loonies on the path
The lunatic is in the hall
The lunatics are in my hall
The paper holds their folded faces to the floor
And every day the paperboy brings more
And if the dam breaks open many years too soon
And if there is no room upon the hill
And if your head explodes with dark forebodings too
I'll see you on the dark side of the moon
The lunatic is in my head
The lunatic is in my head
You raise the blade, you make the change
You rearrange me 'til I'm sane
You lock the door and throw away the key
There's someone in my head, but it's not me
And if the cloud bursts, thunder in your ear
You shout and no one seems to hear
And if the band you're in starts playing different tunes
I'll see you on the dark side of the moon
All that you touch
And all that you see
All that you taste
All you feel
And all that you love
And all that you hate
All you distrust
All you save
And all that you give
And all that you deal
And all that you buy
Beg, borrow or steal
And all you create
And all you destroy
And all that you do
And all that you say
And all that you eat
And everyone you meet
And all that you slight
And everyone you fight
And all that is now
And all that is gone
And all that's to come
And everything under the sun is in tune
But the sun is eclipsed by the moon
There is no dark side of the moon really.
Matter of fact it's all dark”
Pink Floyd, ‘Brain Damage + Eclipse’, Dark Side of The Moon (1973)
É bem verdade que só há escuridão na Lua, excepto aquela que o Sol ilumina. Para os Marxistas, esse sol é alegadamente a Razão que iluminará um novo mundo racional e harmonioso. Para os adeptos da Ordem Liberal, a Luz oscila entre a interpretação literal teológica e uma concepção agnóstica da Liberdade individual, dos princípios liberais, de uma interpretação de direito natural e dos valores civilizacionais judaico-cristãos que nos trouxeram até aqui. O conflito é, e de outra forma não poderia deixar de ser, total. E um compromisso entre tão diferentes e incompatíveis formas de ver e viver o mundo não é possível de ser alcançado.
Na rejeição militante do exemplo de Cristo — seja Ele real ou visto simplesmente de uma forma simbólica —, uma rejeição racionalizada mas que de tão vazia no seu conteúdo espiritual, que não tem, bem como imitando o que rejeitam de forma tão veemente, acabam os comunistas simbolizando, como vimos, o Anti-Cristo que trará a guerra ao mundo — e a destruição da Ordem Liberal, pela qual anseiam e que já corporizam — seguida de uma hipotética paz perpétua, não Kantiana, mas uma sua filha Marxista.
"A húbris de Ícaro que intentou voar perto do Sol derreteu-lhe as asas, causou-lhe a queda e a consequente morte. Mais comezinho, mas não menos verdadeiro, o adágio popular 'quem tudo quer tudo perde' resume a mesma ideia: não nos arrogarmos ao impossível. No Paraíso Perdido de Milton, Satanás prefere reinar no Inferno que servir no Céu. Essa arrogância ressentida resume muito do que alimenta a húbris Marxista que consciente ou inconscientemente intenta instaurar o Inferno da Terra — e nele reinar"
No entanto, por mais que se queira rejeitar a perspectiva bíblica, ou mesmo a teológica, mesmo que apenas aceitando o seu importante simbolismo arquetípico, não será o Gulag, tal como Auschwitz, ou a Revolução Cultural, e a promessa de milhões de mortos, outra coisa além do Apocalipse? Haverá, aliás, maior inferno terreno que esses?
Na sua cópia pervertida, na sua húbris desmedida de tudo julgar saber, na sua ânsia de tudo controlar, ou incorporar, prometem os comunistas, quer os novos quer os velhos, o paraíso descido à Terra mas, como bem sabem os não possuídos pela ilusão do novo culto, os filhos das trevas comunistas, até hoje, sempre que triunfaram na Terra apenas conseguiram criar o Inferno — para eles e para todos os demais.
No entanto, e como vimos, o problema vai ainda mais a montante: a própria natureza do ideal racionalista, porque pressupõe uma importação de uma ilusória resposta racional para o campo do dilema moral da Humanidade, abre a porta do colectivo, do autoritarismo e da erosão do pluralismo democrático e liberal. Esta Ordem Liberal que nos habituamos a ver como o vencedor da História, assenta a sua estrutura e os seus princípios numa afirmação do legado Iluminista da Razão contra o obscurantismo, contra o arbitrário, contra a desigualdade de condição e dignidade social, a favor do primado da lei geral e abstracta, do universalismo, isso é certo e sabido.
No entanto, menos sabido, é que assenta também no ideal anti-iluminista do Romantismo com o seu particularismo anti-sistémico, a apologia do orgânico e do emocional, do individualismo, por um lado, e do comunitarismo, por outro, é certo, mas cultural, de baixo para cima e não racionalmente ordenado; ao mesmo tempo, na centralização da Fé como o ponto de partida para a descoberta de um mundo incognoscível. Daqui, da incontornável subjectividade da condição humana, nasce a própria noção do pluralismo vista como uma circunstância, uma inevitabilidade da condição humana, e o ponto de partida fundamental para o advento da democracia liberal.
Iluminismo e Romantismo, Ordem e Caos, Universalismo e Particularismo, Razão e Fé, Abstracção e Existencialismo, estas são os opostos que se encontram num compromisso moral e intelectual que chamamos, quiçá apenas por hábito, democracia liberal. E, presidindo a esta síntese entre duas visões do mundo radicalmente diferentes, a cola que sedimentou o compromisso, aquilo que o permitiu sequer, foi uma tradição civilizacional de inspiração religiosa que, de forma mais ou menos consciente, era partilhada pelas mentes dos adeptos de ambos os campos. Os valores civilizacionais, destilados de uma ordem moral, esses sim sustentam o compromisso entre visões diferentes, logo nosso modus vivendi: sem compromisso entre opostos, sem um partilhar de uma paisagem moral comum, sobra apenas o conflito. Nenhuma democracia, nem sequer a paz ou abundância, podem sobreviver numa sociedade em conflito moral total porque a legitimidade que impele a respeitar a ordem democrática não é partilhada. Assim, quem perde não reconhece a derrota como justa, apenas como uma derrota que nada força a aceitar.
No entanto, tudo o que permitiu o compromisso do qual ainda beneficiamos hoje mudou. Com o advento da secularização, a cola civilizacional dissipou-se substituída por uma crença no compromisso racional. Ao mesmo tempo, o ataque à Ordem Liberal é agora total: no comunismo identitário e cultural é a própria identidade dos indivíduos que se quer moldar a um novo paradigma civilizacional que, em certos casos, configura inclusive uma transformação biológica e trans-humanista. Todos os conceitos, termos, ideais ou vontades, sejam eles morais, políticos ou, até, científicos, são alvo de debate, de redefinição, de re-conceptualização, vergando-se ao novo paradigma relativista.
"Essa razão que tudo julga e tudo vê, o simulacro racionalista de Deus, é uma ilusão. Uma falsa divindade. Um falso deus que alimenta o novo culto que o adora e que promete um paraíso onde todas as vontades individuais se organizam num colectivo harmonioso (...) Cabe então àqueles que reconhecem o novo culto como a falsa promessa que é, que rejeitam essa perspectiva e lhe descortinam o seu lado negro, advogar por ir ao encontro de uma razão mais humilde, uma razão que não se arrogue a tudo saber, a tudo poder explicar, que aceite a inevitabilidade imperfeita da condição humana e que permita o espaço intelectual, quiçá espiritual, para redescobrir a verdade num mundo que, mesmo estando fora de nós e permanecendo em larga medida desconhecido, não deixa de existir"
Não deverá, portanto, ser difícil de compreender que um simples advogar de princípios e teorias liberais servirá de pouco mais contra a força mitológica do culto Marxista do que aliviar as consciências daqueles que, apesar de reconhecerem a importância da Ordem Liberal, não compreendem as razões pelas quais ela se encontra em profunda crise. Não bastam os princípios, facilmente pervertidos, engolidos pelo novo culto, ou recusados como ultrapassados, injustos, falsos. O que é fundamental é a defesa dos alicerces nos quais esses princípios se sustiveram.
Kant, como vimos, revolucionou literalmente o mundo intelectual e moral do Homem. No entanto, ao elevar o Homem ao centro, representou o sentido oposto ao de outro revolucionário, Nicolau Copérnico, que no revolucionar a astronomia despromoveu o planeta à tese heliocêntrica. Marx, e o Marxismo, são uma consequência, um sintoma, da verdadeira doença: a arrogante razão Kantiana que imaginou poder descortinar absolutos Morais sem qualquer fonte moral além da própria razão, ou imaginação, humana. Esta húbris desenvolve-se agora nos seus capítulos finais tendo-nos custado tudo, ou quase tudo, em que a nossa Civilização um dia assentou.
Apesar do contundente argumento Kantiano que desenvolveu o subjectivismo fenomenológico, um importante legado de onde deriva a grande maioria da Filosofia contemporânea, isso não significa que se deva aceitar a outra parte da premissa, a racionalista, e que se imagine poder reduzir a complexidade do mundo e a profundidade da experiência humana a um formalismo racional baseado em suposições, idealismos e, acima de tudo, vontades de aliviar o julgamento moral individual de cada um de nós em nome de um standard racional, universal, portanto colectivo, que forneceria por nós as respostas aos dilemas morais que todos experienciamos.
Essa razão que tudo julga e tudo vê, o simulacro racionalista de Deus, é uma ilusão. Uma falsa divindade. Um falso deus que alimenta o novo culto que o adora e que promete um paraíso onde todas as vontades individuais se organizam num colectivo harmonioso. No entanto, como Isaiah Berlin tão bem resume nas linhas finais do seu From Fear and Hope Set Free, a ideia de que existe um padrão universal racional que nos permite harmonizar e compatibilizar todos os valores, desde a liberdade à segurança, da felicidade à justiça, ou da igualdade à promessa de um futuro melhor, é tudo menos evidente, bem pelo contrário, quando analisada empiricamente, será provavelmente das ideias menos verosímeis alguma vez advogadas por pensadores e teóricos.
Cabe então àqueles que reconhecem o novo culto como a falsa promessa que é, que rejeitam essa perspectiva e lhe descortinam o seu lado negro, advogar por ir ao encontro de uma razão mais humilde, uma razão que não se arrogue a tudo saber, a tudo poder explicar, que aceite a inevitabilidade imperfeita da condição humana e que permita o espaço intelectual, quiçá espiritual, para redescobrir a verdade num mundo que, mesmo estando fora de nós e permanecendo em larga medida desconhecido, não deixa de existir.
De certo modo, e paradoxalmente, aquilo do qual se necessita é de uma verdadeira secularização: ao contrário de uma suposta idade secular, para utilizar a terminologia de Taylor, que, como procurei argumentar, mais não fez que manter uma estrutura formal teológica apenas que mudando o seu conteúdo para uma apologia da Razão e do Materialismo, e desse modo, por um lado, amputando e impedindo o florescimento espiritual do Homem e, pelo outro, infantilizando-o ao separá-lo do mundo tal como ele é, o que se exige é verdadeiramente voltar a separar o moral do religioso e do ideológico, mesmo que este “religioso” de religioso apenas guarde o invólucro. A Cristo o que é de Cristo, a César o que é de César, a base do sucesso Cristão e da “secularidade”.
Redescobrir a Verdade passa também por redescobrir os valores da prudência e da tradição. De valorizar uma fiel representação, mesmo que imperfeita, do mundo tal e qual ele é e não tal como gostaríamos que ele fosse. O regresso ao empírico método científico, o reconhecimento de que a única certeza que podemos ter é que vivemos num mundo incerto, ou, em termos socráticos, que apenas sabemos que não sabemos, desta base simultaneamente empírica e realista, assente num compromisso entre um saudável idealismo que impele à reforma, bem como a imaginar soluções para os males que nunca deixam de nos afectar, mas recusando a arrogância de tudo querer resolver, num passo de mágica e numa solução perfeita, advogue a virtude do senso comum.
A húbris de Ícaro que intentou voar perto do Sol derreteu-lhe as asas, causou-lhe a queda e a consequente morte. Mais comezinho, mas não menos verdadeiro, o adágio popular quem tudo quer tudo perde resume a mesma ideia: não nos arrogarmos ao impossível.
No Paraíso Perdido de Milton, Satanás prefere reinar no Inferno que servir no Céu. Essa arrogância ressentida resume muito do que alimenta a húbris Marxista que consciente ou inconscientemente intenta instaurar o Inferno da Terra — e nele reinar. E do mesmo modo como, para Milton, Satanás disfarçado de serpente haveria de infiltrar-se no Paraíso para causar a Queda do Homem, também hoje o jardim Ocidental está pejado de agentes que conspiram, propagandeiam e tentam os seus habitantes. Agentes que se alimentam da tentação capital, a original que causou a queda simbólica de Satanás, e que nos é oferecida hoje sob a capa da ideologia Marxista: a tentação de ocuparmos o trono de Deus. No entanto, para descobrirmos uma razão mais humilde, e portanto mais realista, o primeiro passo deverá precisamente ser o de reconhecermos essa tentação como uma perigosa ilusão — bem como reencontramos no facto simples de sermos tentados a humildade da nossa própria condição.





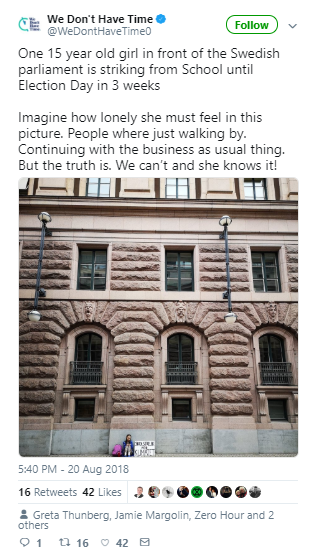
Comentários
Enviar um comentário